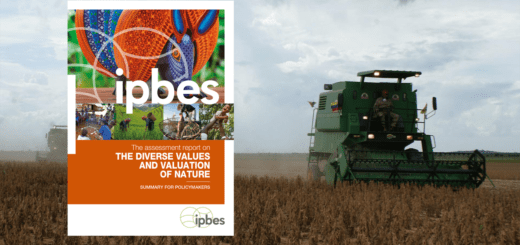Consumo de ultraprocessados não afeta apenas saúde individual, mas do planeta Terra

Nos últimos 30 anos, a dieta brasileira ficou 21% mais poluente, 22% mais onerosa ao sistema hídrico e com uma pegada ecológica 17% maior
Macabéa, a personagem principal do romance “A hora da estrela”, de Clarice Lispector, leva uma vida simples e laboriosa. Recém-chegada do Nordeste ao Rio de Janeiro, tem pouco tempo livre fora do trabalho e um salário magro, o que reduz suas opções alimentares ao que está mais à mão. Em uma consulta médica, o doutor pergunta o que ela come, ao que responde: “Cachorro-quente.” “Só?”, ele indaga. “Às vezes como sanduíche de mortadela”, diz Macabéa. A conversa continua: “Que é que você bebe? Leite?” “Só café e refrigerante.” O médico, preocupado: “Você às vezes tem crise de vômito?”, e ela exclama que nunca, “pois não era doida de desperdiçar comida”.
Não é preciso ser médico para entender que a personagem sofre de fome oculta, uma deficiência de micronutrientes essenciais para o organismo, como define a Organização Mundial da Saúde. A síndrome, que atinge ao menos 25% da população mundial, como aponta o Global Hidden Hunger Index, pode tornar-se cada vez mais comum com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, aqueles que passaram por uma mudança tão extensa que é impossível de reproduzi-los em casa.
Só na dieta brasileira, segundo uma pesquisa publicada em setembro passado na revista científica Lancet Planet Health, a presença desses alimentos mais que dobrou nos últimos 30 anos. Segundo o estudo feito por cientistas brasileiros, o consumo elevado de ultraprocessados não afeta apenas a saúde das pessoas, mas do planeta Terra. A pilha de cachorros-quentes e refrigerantes está relacionada a altas de 21% na emissão de gases do efeito estufa, 22% na pegada hídrica (a quantidade de água potável suficiente para produzir um alimento ou mercadoria) e 17% na pegada ecológica, sugerindo impactos ambientais significativos da dieta brasileira de ultraprocessados.
O artigo “Greenhouse gas emissions, water footprint, and ecological footprint of food purchases according to their degree of processing in Brazilian metropolitan areas: a time-series study from 1987 to 2018” faz uma análise de série temporal usando dados de cinco Pesquisas de Orçamentos Familiares (1987–88, 1995–96, 2002–03, 2008–09, 2017–18), com objetivo de calcular a emissão de gases de efeito estufa, a pegada hídrica e a pegada ecológica a cada 1.000 calorias de comida e bebida consumidas.
Os itens dos orçamentos foram separados pela classificação NOVA de alimentos, a primeira ferramenta a agrupar comida de acordo com o nível de processamento pelo qual passou antes de chegar à mesa do consumidor. Isso inclui processos físicos, biológicos e químicos, que podem ocorrer após a colheita do alimento ou após a separação do alimento na natureza. Antes, o foco estava apenas no perfil nutricional dos alimentos, sem considerar o processamento industrial e suas relações com padrões de alimentação, ingestão de nutrientes e riscos à saúde. As quatro categorias da NOVA são alimentos in natura, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados.
Esta análise permitiu observar uma mudança no padrão alimentar dos brasileiros. O consumo de itens in natura diminuiu 7,3% e o de ingredientes culinários (como óleo de cozinha e sal) caiu 8%, enquanto a ingestão de comidas processadas cresceu 1% e de ultraprocessadas, 13,2%.
Os dados levam a assumir que no Brasil acontece uma troca de não processados por processados. A redução da compra de ingredientes mostra que as pessoas estão deixando de cozinhar em casa e, possivelmente, comprando mais refeições congeladas.
“O padrão de alimentação piorou e o principal vilão são as carnes ultraprocessadas, como salsicha, nuggets e hambúrguer”, explica Jacqueline da Silva, nutricionista, doutoranda na Global Academy of Agriculture and Food Security da Universidade de Edimburgo e co-autora do estudo. “Mas enquanto os impactos disso na saúde das pessoas estão muito bem documentados, ainda estamos começando a entender as consequências da nova dieta brasileira para o meio ambiente”.
Segundo a pesquisa de Silva, a emissão de gases do efeito estufa de cada grupo alimentar acompanhou as alterações no padrão de consumo. No primeiro grupo, dos não processados, não houve alteração, enquanto as emissões do grupo dos ultraprocessados dispararam 245%. O mesmo ocorreu com a pegada hídrica deste grupo, que aumentou 233%, e a sua pegada ecológica, 183%. As mudanças que levaram a um novo padrão alimentar tornaram o Brasil 21% mais poluente, 22% mais oneroso ao sistema hídrico do país e do mundo e 17% mais dispendioso com relação a recursos naturais.
A situação fica ainda mais grave devido ao fato de que esse sistema se retroalimenta. As cadeias de produção de alimentos são responsáveis por cerca de um terço das emissões globais de gases do efeito estufa — e, ao mesmo tempo, sofrem com os impactos climáticos que elas mesmos ajudam a provocar. “A dieta é um dos maiores motores da mudança climática”, afirma Silva.
No começo de janeiro, a FecoAgro-RS (Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul) calculou em pelo menos R$ 19,77 bilhões o valor de produção perdido no estado, apenas em soja e milho, devido à uma seca atípica. Enquanto isso, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) apontou que 119 mil hectares de lavouras foram perdidos em Minas Gerais após chuvas excepcionalmente intensas em dezembro e janeiro, atingindo a produção de grãos (como milho e feijão) e hortaliças.
Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), no centro do Brasil o aumento da temperatura pode chegar a 4 ou 5°C nas próximas décadas, o que pode inviabilizar o agronegócio. Os efeitos das mudanças climáticas estão começando a se fazer presentes e têm potencial de tornarem-se muito piores — especialmente se a dieta dos brasileiros (e do mundo) continuar seguindo o mesmo padrão. Se em terras verde-e-amarelas 25% de todas as calorias consumidas já vêm de ultraprocessados, em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, a parcela já salta para 50%.
Mas por que as pessoas estão consumindo tantos ultraprocessados? Para Michelle Jacob, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as explicações chave são o preço, conveniência e um marketing agressivo.
“Não é só que a salsicha é mais barata que a alcatra, também é mais rápida de preparar, o que a torna mais atraente para quem tem pouco tempo para cozinhar”, explica a nutricionista e pesquisadora. Ela enfatiza que esse grupo de alimentos é mais barato apenas se o preço for considerado, não o custo. Incluídos o custo ambiental, social e de saúde, os zeros à direita aumentariam. “Construiu-se uma imagem mítica ao redor de alimentos ultraprocessados. Não é à toa que a Coca-Cola engarrafou a magia do Natal e que temos conceitos como a ‘família-margarina’”.
Para Jacob, há ainda dúvidas se a segurança alimentar ficaria ameaçada caso o consumo de ultraprocessados diminuísse pelo custo adicional causado ao meio ambiente. No curto prazo, pode parecer que sim, por causa do preço dos alimentos.
A recente alta no quilo da carne estampou os jornais com imagens de “filas dos ossos” e impulsionou a compra de substitutos da carne fresca. Março de 2020 registrou alta de 31% na carne in natura, enquanto as versões industrializadas subiram 15%, segundo o IBGE. É uma situação que penaliza pessoas de renda mais baixa, já que os mais ricos continuam comendo carne.
No longo prazo, o cenário muda. Segundo o Art. 3º da Lei nº 11.346, de 2006, da Constituição, segurança alimentar “compreende a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. Não é apenas sobre acesso. Mesmo com a alta disponibilidade de ultraprocessados e seu preço menor, o Brasil voltou ao Mapa da Fome em 2018 e, em 2020, registrou 55,2% da população convivendo com a insegurança alimentar, segundo pesquisa da Rede Penssan.
Neste cenário, Jacob avalia que já passou da hora de falar sobre comida sustentável. O conceito refere-se a uma alimentação comprometida com a conservação de recursos naturais, a saúde dos indivíduos e culturas locais. Uma alimentação que se preocupa com o hoje sem comprometer o amanhã. “Não só estamos deixando de atender as necessidades da população hoje, como também estamos entrando no cheque especial ecossistêmico”, diz, emprestando a alegoria utilizada pelo jornalista e biólogo Reinaldo José Lopes.
Existe uma percepção de que comida sustentável é conversa para país rico. Afinal, a volta ao mapa da fome está relacionada a uma escalada da inflação, a ausência de recomposição do valor de benefícios sociais e um desmonte das políticas de segurança alimentar desde 2015 (mas sobretudo no governo de Jair Bolsonaro). O sistema de produção, porém, se retroalimenta. Quanto maior a demanda de ultraprocessados, maior será sua produção, o que aumenta o impacto ambiental e intensifica as mudanças climáticas. Há ainda um abalo na agricultura, aumentando os preços dos alimentos e, por sua vez, a insegurança alimentar.
Se alimentação é questão intersetorial, garantir o acesso de todos no presente e no futuro à comida saudável, tanto para pessoas quanto para o planeta, soluções são complexas e plurais. No aspecto da produção, é necessário zerar o desmatamento e aumentar a eficácia (na agropecuária do Pará, por exemplo, a regra é de cerca de 0,8 boi por hectare de terra, o que denuncia um desperdício intenso de potencial para reflorestamento e uma produtividade baixíssima). O governo poderia oferecer incentivos para produtores médios e pequenos intensificarem sua produção de forma sustentável.
Ana Clara Duran, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Universidade de Campinas (NEPA-Unicamp), ressalta que “a agricultura não é necessariamente vilã e pode ser parte da solução”. Para ela, o que pode ser buscado é o campo da agroecologia, ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais. É uma ciência que se preocupa com que os recursos sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando um agroecossistema sustentável.
Duran destaca que, enquanto alimentos saudáveis e sustentáveis poderiam ser subsidiados, por exemplo com financiamento da micro indústria familiar, os ultraprocessados teriam sobretaxas. Embora isso esteja longe de acontecer no Brasil (não há imposto específico para ultraprocessados, ao contrário: refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus têm subsídio sob a forma de créditos tributários, por exemplo), países como México, Chile e Inglaterra já adotaram tributação sobre refrigerantes e percebem o impacto positivo da medida no sistema de saúde.
Na área legislativa, existe a possibilidade de mudar a rotulagem de alimentos para informar melhor o consumidor sobre aspectos como presença de adoçantes artificiais e origem do produto, permitindo que tome decisões mais conscientes sobre o que escolher.
Em outubro, entra em vigor um novo padrão de rotulagem de alimentos e bebidas industrializadas aprovado pela Anvisa em 2020. Embalagens de ultraprocessados deverão apresentar um selo frontal com símbolo de lupa para informar sobre altos teores de açúcar, gordura e sódio. Os limites definidos pela Anvisa, porém, são mais frouxos que os recomendados pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Muitos alimentos que deveriam ter a advertência não vão recebê-la, como os adoçantes.
Ainda segundo a pesquisadora, a publicidade agressiva poderia ser restringida, especialmente para o público infantil, o que começa a afetar diretamente como as gerações futuras enxergam a questão da alimentação. Alguns países da América Latina estão mais adiantados. O Chile aprovou, junto à rotulagem e à tributação, a restrição à publicidade e à venda de ultraprocessados nas escolas.
O mais urgente, Duran ressalta, é retomar projetos que já funcionaram muito bem no Brasil, como o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e o próprio Bolsa Família (PBF), que foram desidratados ou quase extintos durante o mandato de Bolsonaro. O próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), enfraquecido durante a pandemia de Covid-19, é importantíssimo porque não só oferece alimentação escolar, mas também ações de educação alimentar e nutricional a estudantes — o que contribui para a desalienação com relação ao que se come.
Os indivíduos que já possuem acesso à informação e conseguem comprar produtos in natura podem fazer uso de ferramentas como o Guia Alimentar Para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, para proteger o meio ambiente e começar a desonerar os mais vulneráveis do ponto de vista climático. “É impossível falar sobre a redução do consumo de ultraprocessados sem passar pela redução do consumo de carne”, diz Duran.
No estudo publicado na Lancet, uma das conclusões é que “a carne ultraprocessada foi o maior contribuinte do G4 [grupo dos ultraprocessados] para emissões diárias de gases do efeito estufa e pegada hídrica em cada ano do período analisado”. No entanto, a pesquisadora da Unicamp faz uma ressalva: “Mesmo assim, não podemos exigir que pessoas de faixas de renda diferentes, ou culturas diferentes, sigam o mesmo padrão de redução”.
Uma alternativa para o consumo de carne é o chamado flexitarianismo ou semivegetarianismo, termos usados para definir o padrão alimentar onde há redução do consumo de carnes e outros alimentos de origem animal. Pelo menos uma vez por semana, o consumo de carnes e proteínas de origem animal pode ser substituído por alimentos e proteínas vegetais, ou a dieta pode ser apenas reduzida no consumo diário de carnes — o importante é que a maioria dos alimentos seja de origem vegetal.
O flexitarianismo (ao lado de mudanças mais radicais, como o vegetarianismo e o veganismo) abre a discussão a respeito dos substitutos e imitadores de carne, que também são ultraprocessados, mas prometem um impacto ambiental menor. Ainda não há estudos conclusivos, no entanto, e o debate está apenas no começo.
Outra solução ao programa dos processados vem na articulação internacional. “Como a crise climática é global, seria preciso que todo o mundo, e não apenas uma nação, mudasse a maneira de pensar sobre alimentação”, afirma Michelle Jacob, professora da UFRN. Alguns exemplos são mecanismos como a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima (as COPs) e acordos comerciais como o que está sendo traçado entre Mercosul e União Europeia, que colocam pressão para que sistemas alimentares sejam incluídos na discussão sobre meio ambiente.
O Brasil, por exemplo, é um país de biodiversidade com potencial agrícola, mas que se destaca como um grande exportador de monocultura, cujo impacto ambiental é altíssimo devido ao desmatamento e à redução da resiliência de ecossistemas. Mais de um quinto da carne e da soja que são exportadas para a União Europeia tem origem em desmatamento ilegal, segundo estudo do professor Raoni Rajão, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Apenas se houver uma articulação internacional, será possível mudar essa realidade e reduzir os impactos ambientais da alimentação”, conclui Jacob.