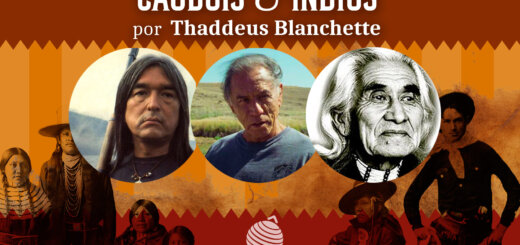Amazônia, o Outro do Brasil

[RESUMO] Com ampla contribuição para o desenvolvimento da sociologia no estado do Pará e na Amazônia, a autora discute a construção da “outridade” da região como justificativa para a implementação local de projetos desenvolvimentistas, servindo a interesses do governo e empresários brasileiros e estrangeiros. Para ela, esse projeto de séculos de inferiorização cultural e racial subestima sua complexidade, e quem sai “atrasado” da história não é a Amazônia, mas o Brasil.
Não tratarei aqui de teorias sobre a Amazônia. As teorias ficaram nas páginas dos livros e artigos que escrevi e escrevo sobre a Amazônia. Falarei da Amazônia como ela é hoje: bela, amada e conflitada. Compreender o processo pelo qual a Amazônia converteu-se no Outro do país Brasil implica, necessariamente, num mergulho em sua história (antiga e recente). E também nas singularidades que a caracterizam e que a converteram num espaço único no mundo de povos distintos e mágicos, de cultura e natureza, de mitos e maravilhamento, mas, simultaneamente, em espaço de cobiça, conflitos e num inquietante contraste de abundância e pobreza.
Navegadores, escrivães mas também naturalistas foram os arautos que, desde o primeiro olhar estranho para as terras amazônicas, anunciaram seus mitos e maravilhas. Inicialmente positivas, as singularidades amazônicas foram sendo transmudadas à medida em que se intensificava o processo de exploração. Em poucos séculos, de maravilhosa passou a insalubre, inferno verde, difícil, estranha, diferente, de modo que em poucos séculos estava instalada a rejeição da diferença. O estranhamento em relação à região que se entranhou na consciência nacional foi construído num longo processo cujas origens estão fincadas no período colonial.
Portugal possuía inicialmente apenas a colônia Brasil. Quando Felipe II, rei da Espanha, assumiu também o trono de Portugal, fundou em terras espanholas a colônia do Grão-Pará, território que se estendia do Maranhão e Piauí até as terras amazônicas. O rei da Espanha permitiu que as autoridades portuguesas dirigissem e povoassem o Grão-Pará mas, ainda assim, cada uma das duas colônias – Brasil e o Grão-Pará, se reportava diretamente a Portugal, não mantendo nenhum contato uma com a outra.
O contato do Grão-Pará com o Brasil era tão rarefeito que, quando da Independência do Brasil, o Grão-Pará não aderiu àquele ato, permanecendo fiel à coroa portuguesa. A adesão do Grão-Pará à Independência se deu em meio a luta dos habitantes locais contra tropas contratadas pelo imperador do Brasil e a adesão do Grão-Pará e sua anexação ao Brasil ocorreram apenas em 1823. Mas a crise política se desdobrou em lutas internas e resultou no movimento popular denominado Cabanagem, que deixou em torno de 40 mil mortos entre 1835 a 1840.
Mesmo que já legal e formalmente integrada ao Brasil, a Amazônia permaneceu até 1960 sem nenhuma ligação por terra com o resto do país. Era um belo mundo isolado, de vida modesta, mas harmônica e integrada à sua natureza. O ano de 1961 é um marco histórico na vida amazônica: é quando um único ponto da região (apenas um) – Belém, é conectado à Brasília pela rodovia Belém-Brasília, ainda em leito de piçarra e de difícil trafegabilidade, o que se normalizou anos depois, com o asfaltamento da rodovia.
Mesmo assim, o restante da região permaneceu isolado por vários anos. O estado de Roraima, por exemplo, somente se integrou espacialmente ao Brasil em 1987, quando a rodovia Manaus-Boa Vista (BR-174) foi concluída mas, a rodovia cortou a terra dos Waimiri-Atroari matando centenas de índios daquela etnia. Em 1989, uma comitiva da qual eu participei, compareceu ao Tribunal Pemanente dos Povos em Paris para denunciar o genocídio dos Waimiri-Atroari e dos Yanomâmi, numa equipe chefiada pelo sociólogo José de Souza Martins e o cacique David Kopenawa.
O longo isolamento amazônico e sua história singular combinaram-se a outros fatores da história remota, que propiciaram as condições da atual subalternidade amazônica em relação ao país Brasil. Isto é, condições que forjaram sua outridade – a concepção imaginária e equivocada de que tem um povo, um território ou uma etnia pertencente a um mesmo corpo social que é diferente e inferior à da maioria.
Somando-se à sua história e ao isolamento geográfico, outras condições amazônicas singulares tiveram o mesmo papel, como a cultura, a linguagem e a natureza da região.
Multiculturalismo e preconceito
As línguas indígenas mais faladas nas duas colônias – Brasil e Grão-Pará – por índios e caboclos vieram de troncos linguísticos diferentes. Enquanto no Brasil predominavam as línguas da linhagem tupi-guarani, na região amazônica as línguas indígenas derivavam de uma mutação do tupi: o nheengatu, que permaneceu até fins do século XIX como língua popular, sendo mais falada que o português pelas populações interioranas da Amazônia.
Em todos os espaços amazônicos, o linguajar corrente das populações do interior permaneceu repleto de vocábulos indígenas. Este fato foi esmaecendo à medida que as transmissões de TV iam sendo disseminadas pelos interiores amazônicos a partir da segunda metade do século XX.
As distâncias, o isolamento, o linguajar diferenciado, a predominância indígena e cabocla da população, a forma de vida e a economia extrativista condicionada ao rio e à mata, a precária formação escolar e intelectual da população em geral, devido aos poucos investimentos federais na região (exceto quando se trata de explorá-la) – enfim, as singularidades naturais e culturais amazônicas foram sendo qualificadas como “atraso” em relação ao resto do Brasil. Depois, acabaram por identificar a região como pólo negativo e inferiorizado da dicotomia “moderno-atrasado”, em que o Sul e o Sudeste do Brasil representam o pólo moderno do binômio. Este pseudo atraso sedimentou-se no período entre 1930 e 1945, quando o Brasil passou por um processo de grande aceleração industrial. Desde então, a Amazônia, para os demais brasileiros, situou-se do lado de fora das fronteiras civilizatórias em que o Brasil “moderno” começou a se inserir.
Todas essas condições, somadas ao fato da região ser povoada por índios e caboclos (etnias subalternizadas na cultura brasileira), vivendo em meio a um mundo de águas e matas, foram contribuindo para a imagem da Amazônia como o Outro do Brasil – a estranha, a difícil, a longínqua, a diferente.
Uma nova filosofia pós-nazismo e os avanços científicos sobre o DNA não foram suficientes para dar um fim à herança do pensamento valorativo, perverso e distorcido, que diferencia e inferioriza povos e etnias, no qual a sociedade ocidental imergiu. Hoje, não existe nenhuma justificativa científica ou filosófica para o racismo, mas ele continua vivo como um poderoso e perverso fato social, organizador da desigualdade nas sociedades.
O racismo atinge em cheio a Amazônia e seus povos, notadamente pela presença da maior proporção de índios, de mais de uma centena de etnias, inclusive índios urbanos, quilombolas e populações tradicionais diversas. Também devido aos numerosos e minúsculos núcleos urbanos à beira de igarapés, lagos, rios e baías.
Esta sociedade da mais rica e admirável multiculturalidade do país foi sendo tomada pelo restante do Brasil como “o lugar do atraso”. Some-se a isto a ideia, muito cara aos militares brasileiros, de entender o Brasil como um país de um único povo, única língua, habitando um único território contínuo: o povo brasileiro. A Amazônia contesta essa ideia a cada passo que se penetra em seu território.
Em oposição à rica pluralidade cultural da região, os governos brasileiros e regionais vêm tentando há mais de um século (e sem sucesso) homogeneizá-la e ajustá-la aos cânones ditos civilizados e do capital. Entretanto, do período colonial aos dias atuais, a região não tem se encaixado nos propósitos civilizatórios dos sucessivos governos, justamente devido à sua diversidade na cultura e natureza.
Em consequência, sedimentou-se uma forte ideia de inferioridade cultural e racial amazônica e isto permanece em pleno século XXI. Esses fatos e concepções são pouco estudados, muito deturpados e, sobretudo, fantasiados – ou mesmo folclorizados. Essa inferioridade se estende até mesmo à rica mitologia amazônica (como os mitos do boto, da cobra grande, do tamba-tajá e muitos outros).
Segundo o poeta Paes Loureiro, a mitologia amazônica em nada é inferior à mitologia grega, mas sem os intérpretes filósofos que honraram aquela mitologia. Concordo plenamente com ele. Por que o encantamento do boto amazônico é “invencionice de caboclos”, enquanto as sereias gregas de Ulisses são levadas a sério, respeitadas e estudadas por autores renomados como Adorno e Horkheimer, servindo como ponto estratégico para a análise do comportamento do ser humano moderno?
A história da Amazônia mostra que a região tem sido penalizada por um enorme e permanente esforço empreendido pelos conquistadores dos séculos passados aos governantes, políticos e planejadores dos dias atuais, para modificar a realidade original da região e o que dela perdura de mais original – índios, caboclos, quilombolas, modos de vida, florestas e sua biodiversidade rica e enigmática. No entanto, se nos anos 1970 índios e quilombolas eram invisibilizados e ocultados sob o conceito de “vazio demográfico”, hoje eles são bem visibilizados, agora como inconvenientes e obstaculizantes da reprodução do capital.
O Estado se recusa a reconhecê-los como grupos sociais que merecem tratamento diferenciado e respeitoso. Para isto, teria que assumir o caráter ético que a sociedade amazônica espera dele, mas obstina-se na tentativa de domesticar o homem e a natureza da região. O Estado brasileiro molda ambos à visão equivocada e à expectativa de exploração e lucro tanto de nativos quanto de estrangeiros, ao invés de estudá-los, respeitá-los e amá-los como uma dádiva cultural e como uma natureza preciosa e única no planeta.
É bem verdade que o racismo nos foi trazido originalmente pelos europeus. Está consagrado em textos clássicos, reproduzidos acriticamente e por séculos até os dias atuais, como se observa nas peças de Shakespeare (onde o negro Otelo na peça Otelo, o mouro de Veneza e o judeu Shilok, em O mercador de Veneza aparecem como figuras inferiorizadas e detestáveis). Também está nos grandes nomes da filosofia ocidental que estudamos na faculdade com enorme admiração, como Kant e Hegel; na própria sociologia, desde os fundadores Augusto Comte e Émile Durkheim; ou nas ciências naturais, em que o biólogo James Watson, descobridor da estrutura do dupla hélice do DNA e vencedor do Prêmio Nobel de medicina, expressa seu indigno racismo, em 2019.
O racismo foi bem assimilado pelos brasileiros brancos. Com relação à Amazônia, ele está expresso claramente nos planos e documentos elaborados para a região – a exemplo do texto Óbices ao desenvolvimento, da Escola Superior de Guerra, em que o Presidente Geisel manifesta sua intenção de reduzir os índios amazônicos até o ano 2000, integrando-os à sociedade nacional para não obstaculizarem o desenvolvimento. Ou quando o atual presidente diz: “Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós.”
Este racismo, renovado e muitas vezes disfarçado sob o conceito de desenvolvimento e progresso, é potencializado contra índios e quilombolas, que no passado buscaram na Amazônia um refúgio que, supostamente, imaginavam seguro. Ele estende-se à região como um todo, incluindo sua natureza e seus variados povos, como seres portadores de uma cultura primitiva, rude, inferior, não agregável à cultura e, menos ainda, à economia brasileira.
Quando a Amazônia foi “redescoberta” pelo país Brasil, a partir dos anos 1960, o racismo, as discriminações e os vários estereótipos acerca da região e seus povos já se encontravam sedimentados. Apesar de tantas vezes desmentida pela ciência, persiste a crença de que se os ecossistemas amazônicos são ricos, eles são também, obviamente, resistentes aos impactos ambientais e naturalmente auto-regeneráveis. E se os ecossistemas são ricos é porque o solo é fecundo. Este é mais um engano. Na verdade, eles são pobres, e é somente graças a um complexo e delicado mecanismo natural que a floresta se mantém em pé e abundante.
Quanto à cultura regional, a tecnoburocracia e amplos segmentos da sociedade civil brasileira entendem que índios, quilombolas e caboclos ocupam enormes extensões de terra e nelas desenvolvem atividades econômicas de baixa produtividade, que pouco ou nenhum ganho agrega à economia. Não geram impostos, nem aproveitam a riqueza do subsolo. Quanto ao capital, destaco apenas a ideia equivocada de que o desenvolvimento seria uma tarefa exclusiva do capital e principalmente do grande capital.
Com base em discriminações, equívocos e inconsistências, a Amazônia vem sendo explorada, saqueada, subalternizada, ultrajada e, por fim, descaracterizada. As consequências da inferiorização instaurada são vividas pelos povos e pela natureza amazônica no seu cotidiano de luta por uma sobrevivência digna, plena e democrática, num processo contínuo de resistência.
A outridade estrutural da Amazônia
Numa conversa há anos sobre a região, o Prof. Octávio Ianni disse: “A Amazônia é um enigma não decifrado pelos brasileiros”. De fato, para decifrar a multiculturalidade de seus povos e a rica biodiversidade regional, convertendo seu potencial em emprego, renda, bem-estar, igualdade e sustentabilidade, a Amazônia não precisa de motosserras e tratores, ou soja e minério em lingotes. Precisa de ciência, pesquisa (muita pesquisa), investimento em educação e recursos.
Para decifrar seus povos, é preciso ouvi-los e tratá-los com respeito e dignidade.
Em oposição a isto, a conquista da região no passado e a exploração na atualidade vem combinando, em permanência, alguns elementos-chave: a exploração abusiva, a violência e a descaracterização da região. Embora esse processo tenha suas origens remotas no período colonial, quando a Amazônia começou a ser convertida no “Outro” do país pelas suas especificidades e isolamento, este processo sobreviveu ao Brasil Colônia, fixou suas estruturas na continuidade da história regional. A partir dos anos 1970, acelerou-se rapidamente, como consequência das crises do capital e da necessidade de sua valorização continuada, mas também devido à incompreensão da sociedade brasileira e ao desconhecimento e obscurantismo dos sucessivos governos com relação à região. Hoje, esta outridade está instalada na consciência nacional.
Quero aqui alinhar apenas algumas das medidas que subalternizaram a região, aprofundando a crise identitária amazônica e convertendo-a na nova colônia do país Brasil.
O 1º passo foi a mudança do perfil econômico da região, impondo a ela novas atividades altamente financiadas pelo governo federal – madeira, pecuária, minérios, grãos em especial a soja. Em 30 anos, as novas atividades econômicas mudaram o perfil econômico da região e converteram a Amazônia numa fronteira de commodities. Isto se processou destruindo a mais rica, vasta e biodiversa floresta tropical do planeta, rasgando mata, terras, aldeias indígenas, comunidades quilombolas e escorraçando ribeirinhos e extrativistas de suas terras imemoriais.
Comparo a forma como o governo brasileiro nos anos 60 e 70 ofereceu a Amazônia ao grande capital a uma passagem no canto X do poema Lusíadas, em que a deusa Tétis oferece um banquete aos navegadores e exploradores que vão conquistar o Novo Mundo. Conduzindo Vasco da Gama pela mão ao alto de um monte, lhe mostra a grandeza do universo e aponta as novas terras a serem conquistadas e exploradas pelos portugueses. Ato idêntico se repetiu quando o governo brasileiro, 500 anos depois, sobe o rio Amazonas de navio com 300 grandes empresários estrangeiros e brasileiros e, em cada uma das capitais da região, em célebres e históricos banquetes, mostra-lhes o mundo amazônico a ser conquistado por eles e aponta as vantagens que eles teriam ao explorar aquelas novas plagas e com elas enriquecerem.
Em 2008, a região já contava com mais de 50 milhões de cabeças de gado e um enorme arco de desmatamento que se estendia do nordeste, sudeste e sul do Pará, já alcançava o norte do Tocantins com 170 municípios atingidos. Hoje, são em torno de 200 municípios, e o arco estende-se do Pará ao Acre.
O 2º passo foi a perda de autonomia política da região sobre suas terras, por meio da declaração de grandes partes do território da região como áreas de segurança nacional, exatamente aquelas áreas que apresentavam interesse para futura implantação de mineradoras, hidrelétricas e outros projetos considerados de “interesse nacional”. O Decreto Lei 5.449/68 definiu inicialmente 28 municípios amazônicos como áreas de segurança nacional. Pelo mesmo dispositivo seus prefeitos passaram a ser nomeados pelo governador de cada estado; e estes a serem eleitos por meio de eleições e partidos controlados e manipulados.
Outros atos se seguiram àquele primeiro, abrangendo ao todo 105 municípios amazônicos (quase todos de grande extensão, como Altamira, no Pará, município maior que alguns países europeus). Nesses 105 municípios, o governo federal pretendia explorar minérios ou outras atividades estratégicas, daí retirar a autonomia dos estados e municípios atingidos.Esta situação perdurou por quase 2 décadas, imobilizando completamente os governos estaduais e locais, uma vez que as atividades nesses municípios eram definidas e desenvolvidas pelo governo federal.
No 3º passo, o governo federal sequestra a autonomia territorial de grande parte do território da região quando, por meio do decreto nº 1.164/71, estabelece que todas as terras devolutas a 100km para cada lado das estradas federais na região passavam para o domínio da União. Na época, mais de 90% das terras amazônicas eram devolutas. Este ato dá início à desordem e ao caos fundiário que, com o tempo, só fez e faz se agravar.
Aquele ato, que viola o pacto federativo de autonomia dos estados, se estendeu por quase duas décadas, de modo que sobre a maior parte das terras amazônicas os estados e municípios haviam perdido o domínio político, a gestão administrativa e suas terras. O Pará, por exemplo, perdeu 72% de seu território. O ato somente foi revogado 16 anos depois, quando os grandes projetos como o PPG e dezenas de outros já estavam instalados. Mesmo assim, quando isso aconteceu, as terras não foram mais devolvidas aos estados dos quais elas haviam sido confiscadas.
4º passo : a violação generalizada de direitos fundamentais de índios, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais, envolvendo mortes, queima de aldeias, expulsão de colonos e posseiros, ameaças a extrativistas e outras populações tradicionais.
Este traço cultural de violência, impunidade e prevalência do capital sobre povos e pessoas – tão característico do Estado brasileiro – permanece até hoje, quando índios, caboclos, quilombolas e ribeirinhos são obrigados a abandonarem suas formas anteriores de vida e trabalho, remanejados para outras áreas, sob o argumento de dar lugar a empreendimentos rentáveis que expressam progresso, desenvolvimento e modernidade. Na verdade, os proprietários do capital são considerados pelo Estado e pelas elites como superiores ao Outro, o natural da região, dotado de cultura e humanidade inferiores.
Pelo 5º passo, a União sequestra a autonomia e a capacidade decisória da região. Isto ocorre por várias razões combinadas e simultâneas. Em primeiro lugar, quando o governo federal decide executar um grande projeto com implicações ambientais na região e encontra rejeição, o Estado não esconde seu caráter autoritário e antiético, manipulando a legislação ambiental. O governo fragmentou um grande projeto em vários pequenos projetos, de modo a aprovar cada um deles separadamente como se fossem ações de pequena monta, como a estrada de ferro Carajás.
Em segundo lugar, o Estado manipula o judiciário, se o judiciário rejeita ou coloca interposições ao projeto. Um exemplo ocorreu no caso da hidrelétrica de Belo Monte, em que o Ministério Público Federal (MPF) interpôs e ajuizou 22 ações contra a obra da usina por irregularidades e violações de direitos e todas as 22 ações foram sistematicamente rejeitadas pela justiça.
Em terceiro lugar o Estado recorre à manipulação administrativa como no caso do leilão de Belo Monte, cuja sessão durou apenas 10 minutos e deu-se a portas fechadas, o que é antiético e imoral.
Em quarto lugar, ainda do ponto de vista administrativo, o governo federal transferiu para fora da Amazônia a direção de vários órgãos de ação na região, com vista a livrá-los da influência política e da pressão popular local.
Em quinto lugar ocorre o mecanismo de circularidade da análise de um grande projeto de interesse federal, que obtém sua aprovação em órgãos exclusivos da esfera federal (IBAMA, FUNAI, MME, BNDES e outros), sob forte influência do governo federal e sem a ingerência ou a oitiva dos governos estaduais e municipais, já que a maior parte das terras amazônicas encontra-se sob jurisdição federal e menos ainda das populações atingidas pelo projeto, apesar de direito consagrado em lei. Trata-se de um círculo infernal de dominação burocrático-administrativa.
Em sexto lugar, na hipótese de um embargo do grande projeto de interesse federal em alguma de suas fases, o governo federal apela para um dos recursos jurídicos cuja origem encontra-se na ditadura militar – a Lei no 4.346/64. A referida lei tem por finalidade neutralizar e invalidar as ações impetradas pelas organizações civis e pelo próprio MPF, por meio da suspensão de segurança, lei que autoriza o poder público a realizar obra ou projeto ainda que isto possa afetar a segurança da sociedade. Trata-se de um mecanismo pelo qual o Estado pode suspender uma liminar ou sentença proferida pelo juiz, no sentido de sustar ou obrigar a modificar um empreendimento.
É como se o Estado pedisse uma autorização para se descuidar da cautela, do cuidado e arriscar o cometimento de danos à natureza ou lesões sociais ao concretizar sua ação. Este mecanismo tem sido usado incontáveis vezes no caso da Amazônia. Essas medidas uma a uma foram manietando as possibilidades regionais e convertendo a região em colônia do país Brasil.
Brasil: um país moderno?
O quadro acima tratado configura problemas e violações de diversas ordens. A primeira, de caráter moral, uma vez que tais políticas refazem uma relação de neocolonialismo interno, em que a região se encontra em condição subordinada e impossibilitada de definir sua própria história e destino. Em segundo lugar, porque ela viola direitos humanos fundamentais, e isto com violência, habitualidade e permanência. Em terceiro lugar porque desrespeita o pacto federativo de autonomia dos estados e municípios. Em quarto lugar, porque a Constituição brasileira dispõe em seu art. 43, que projetos de desenvolvimento devem erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades regionais e sociais, enquanto o modelo de desenvolvimento atual vem no sentido inverso – aprofundando desigualdades sociais e regionais.
Finalmente, porque a destruição da Amazônia compromete o futuro de gerações amazônicas e brasileiras que poderiam usufruir de seus bens naturais de forma equilibrada, racional e igualitária, onde todos pudessem usufruir da prodigalidade natural e orgulharem-se da multiculturalidade com que fomos premiados um dia.
A complexidade da Amazônia foi subestimada durante o período autoritário e continua sendo. E sempre que a região é olhada de modo simplista, ela afoga a capacidade governativa do Estado brasileiro, aprofunda as misérias regionais e “atrasa” a região com relação às demais regiões brasileiras.
É necessário e urgente romper este ciclo perverso de violação de povos, culturas e natureza e neste rompimento as ciências sociais têm um papel fundamental. Precisamos de uma verdadeira cruzada nas ruas, nas salas de aula, nos auditórios e nos gabinetes de políticos, usando a lei, o discurso democrático, o diálogo e, principalmente, os recursos que a ciência nos oferece, que não são poucos.
Somente lutando contra os interesses e pressões dos grupos econômicos e elites conservadoras, a sociedade brasileira e o judiciário conseguirão que as ideias difusas de democracia e direitos humanos saltem dos papéis em que a legislação os confinou e se convertam em direitos concretos. Só assim o Brasil poderá se considerar moderno, não pela simples acumulação de capital, mas como um país que abriga a todos, sem discriminação de povos e regiões, em seu espaço igualitário, diferenciado e multicultural.
Este texto é baseado em uma conferência apresentada no 20º Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado em 2021. A palestra é uma síntese do livro “Amazônia, colônia do Brasil”, de Violeta Loureiro. No referido congresso, a Sociedade Brasileira de Sociologia concedeu à autora o Prêmio Florestan Fernandes, pelos relevantes estudos prestados sobre a Amazônia.
Violeta Loureiro é socióloga e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA). Nascida em Boa Vista, Roraima, é filha de judeus austríacos, refugiados da Europa com a ascensão do nazismo antes da Segunda Guerra Mundial. Ela fez mestrado em Sociologia na Unicamp (1985), doutorado no Institut des Hautes Études de l`Amérique Latine, (IHEAL), em Paris, França (1994) e pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal (2006). Autora de obras como Amazônia – Estado, homem, natureza (Belém: Cultural Brasil, 2019) e Amazônia – colônia do Brasil (Manaus: Ed. Valer-Manaus, 2022).
Imagem de destaque: Quilombola segura uma rede de pescar. (Amazônia Real/Flickr)