‘Precisamos desbolsonarizar o Brasil’, diz pesquisadora no Amazonia Now

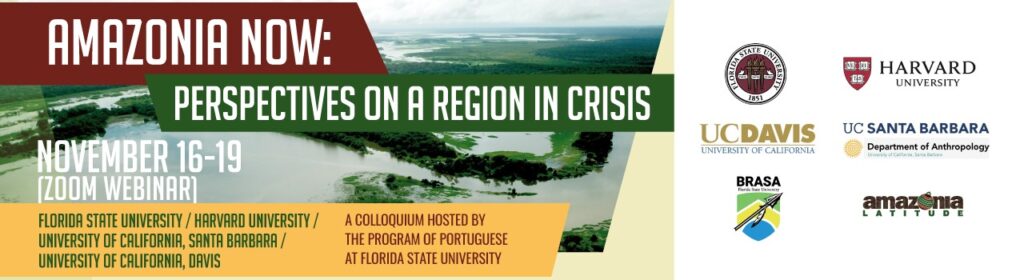
Primeiro dia de debates teve discussões sobre violência, discursos e os conhecimentos vivos
O Curupira poderia soprar a fumaça para fazê-los desaparecerem/os animais, árvores e frutas/Soprar toda sua fumaça para fazer os caminhos desaparecerem./Também poderia contar aos animais seus segredos para caçar homens.
Começou ontem (16) a programação do webinar Amazônia agora: perspectivas de uma região em crise. O evento reúne lideranças dos povos indígenas, de movimentos sociais, cientistas e ativistas para quatro dias de reflexões sobre a floresta e seu futuro.
O webinar é promovido pela Universidade Estadual da Flórida (FSU), com apoio das universidades de Harvard, Califórnia-Davis e California-Santa Bárbara e da Associação de Estudantes Brasileiros (BraSa) na FSU. Após a abertura do evento pelo chefe do Departamento de Línguas e Linguísticas Modernas da FSU, Reinier Leushuis, Juan Carlos Galeano, nascido na Amazônia colombiana e professor na universidade, leu o poema “Curupira”.
O texto é inspirado nas memórias do autor. Além do sobrenatural, interpreta a introdução dos humanos aos mistérios da floresta, algo que deveria ser feito com respeito e sem ganância, pois o Curupira, da mesma forma que dá, também tira.
Violência e discurso
O primeiro painel, Violência e o discurso do Estado sobre as populações indígenas, teve a participação de Idelber Avelar, da Universidade de Tulane, e Beatriz Azevedo, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com mediação de Oscar de la Torre, da Universidade da Carolina do Norte, Charlotte, EUA.
Para Avelar, a incompreensão dos viajantes sobre a realidade dos povos ameríndios ficava nítida na Lettera de Américo Vespúcio. O navegante revela no texto essa falta de entendimento sobre a razão que levava os povos a guerrear, uma vez que não possuíam bens próprios.
O desentendimento permanece. A destruição da Floresta Amazônica, por exemplo, é feita por aqueles que não compreendem que “o Brasil é uma dádiva da Amazônia”, como se diz sobre a mesma. Não fossem os rios voadores que a floresta emana e irrigam o solo de todo o país, o Brasil nem existia.
O pensamento do Estado brasileiro sobre a Amazônia continua sendo “civilizar, incorporar e povoar”, conforme foi sua política durante a ditadura militar, baseada na grilagem de terras. Acreditavam que a Amazônia estava fora da nação.
Os impactos de Belo Monte também seguem em destaque. Segundo o professor, os governos petistas tiraram o projeto da ditadura da gaveta e fizeram modificações que, no entanto, não mudaram as consequências. Insistiram em um projeto criminoso, que não se justificava energeticamente, devido à seca por que o rio passa em uma parte do ano.
Eufemismos como a troca de “afetado pela usina” por “alagado pela usina” não evitaram a seca em um longo trecho do rio Xingu, arruinando a vida de diversas comunidades, que foram expulsas para as periferias de Altamira.
O professor lembrou a contribuição de Neide Gondin, em “A invenção da Amazônia”: a floresta sempre foi lida de fora, construída a partir do ponto de vista de quem chega. E citou “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert: “os brancos desenham as suas palavras, porque sua mente está cheia de esquecimentos”.
Para não dar chance a dúvidas, exemplificou: “Os brancos fazem uma hidrelétrica; tem um resultado catastrófico; aí fazem outra”.
Uma autonomia radical
A professora Beatriz Azevedo, por sua vez, destacou o verbo “civilizar”, que está no centro da crítica de Oswald de Andrade em seu “Manifesto Antropofágico”. O texto remete a duas interpretações. A primeira, em que “manifesto” é substantivo, portanto a enunciação se pretende antropófaga. A segunda, em que o elemento “manifesto” é adjetivo: o índio é antropófago declarado.
A investigação de Azevedo sobre o manifesto de Oswald foi concluída em “Antropofagia – Palimpsesto Selvagem”, publicado em 2016.
Para a professora, a genialidade do manifesto está presente quando o autor questiona a centralidade da racionalidade do civilizador europeu. Oswald defendia uma autonomia radical, pregando que nós não deveríamos aceitar os paradigmas ocidentais da forma como chegaram.
“O dia em que os aimorés comeram o bispo Sardinha deve constituir, para nós, a grande data. Data americana, está claro. (…) Porque, que eles viessem aqui nos visitar, está bem, vá lá; mas que eles, hóspedes, nos quisessem impingir seus deuses, seus hábitos, sua língua… isso não! Devoramo-lo. Não tínhamos de resto nada mais a fazer.”
A professora defende que o manifesto continua atual, portanto estuda o que ele representava e ainda representa em relação às crises da modernidade ocidental: “(…) antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a alegria” e “não sofriam de psicose, porque pensavam a favor da natureza, à céu aberto (…)”.
É preciso, segundo Azevedo, atualizar os neologismos do escritor modernista — “desvespucializar”, “descrabalizar” — para o contexto político, além de colocar o pensamento indígena como outra via de existência.
“Precisamos desbolsonarizar o Brasil, desolavar a internet e destrumpizar a América”, afirmou. “Em tempos conservadores, com o moralismo de Bolsonaro excluindo as diferenças e os dissensos, é importante ressaltar a diferença da nossa existência. Nós não somos brasileiros, somos filhos do continente americano”.
Assim como Oswald pregava autonomia e inversão colonial, expandida pela invenção, a professora diz que a antropofagia é cada vez mais uma forma de reexistência política.
“Nessa psicose militarizada em que estamos metidos, só nos resta lutar junto aos povos indígenas”.
Morte da memória
A segunda mesa do dia, “E o verbo se fez Amazônia: diversidade linguística e necropolítica”, teve participação dos professores José Ribamar Bessa Freire, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e Ivânia Neves, de Universidade Federal do Pará (UFPA).
A conversa foi mediada por Joaquim Barbosa, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Especializada em sociedades amazônicas, incluindo as indígenas, a professora Ivânia Neves destacou o impacto da morte por Covid-19 de três grandes narradores da memória Suruí.
O mais novo entre os anciãos, Apí Suruí foi o primeiro a aprender português e tornou-se grande tradutor de seu povo. Sua morte foi tomada como exemplo de necropolítica linguística, pois há muito tempo os povos indígenas vem perdendo a memória da língua Aikewára, muito antes da pandemia.
“O processo de extermínio dos indígenas vem desde o início da colonização, desde ‘a descida do rio pelo Orellana’, disse Ribamar Bessa em referência ao conquistador espanhol Francisco de Orellana.
Com base nos estudos de William Denevan, em “The aborigenal population of amazonian – native population of the America”, publicado pela Universidade de Wisconsin nos anos 1970, o professor aponta que a população indígena era composta por cerca de 7 milhões de pessoas na Amazônia no início da colonização, ou seja, era totalmente povoada antes das epidemias. Para Bessa, a Covid-19, na memória dos indígenas da Amazônia, não é uma coisa nova.
Assim como esse impacto, a repetição dos colonialismos também já é um problema antigo, que ganha novas caras ao longo do tempo. Para Ivânia, o discurso do presidente Jair Bolsonaro é apenas uma atualização do discurso colonial, e a imprensa e outras instituições ainda contribuem com alguns aspectos negativos, como a folclorização dos povos.
“Não há uma preocupação de fato em preservar as sociedades indígenas”, diz. “Nossas universidades são eurocêntricas, brancas. Não temos reitores negros ou indígenas, todos são brancos”.
No entanto, para a pesquisadora, os povos indígenas ganharam visibilidade e espaço a partir da Constituição de 1988, a exemplo da militância de Ailton Krenak na Constituinte. Protagonismo que é confirmado pela eleição de prefeitos indígenas.
Por um olhar indígena
Com uma extensa trajetória nos estudos das línguas na Amazônia, Ribamar Bessa milita há décadas por uma educação bilíngue no Brasil. “É preciso aprender com os indígenas a olhar a Amazônia. Um problema entre os que estudam a região é que nem sempre conseguem se despir de sua cultura para compreender outra”, disse.
Para o professor, o idioma foi uma das principais chaves para a colonização. Inicialmente, estrangeiros tentaram ensinar o português para os povos do litoral, para possibilitar a catequese. Com dificuldades no processo, colonizadores optaram por se aproveitar de uma matriz linguística, o Tupi, que poderia ser entendida por longo trecho do território nacional.
Depois, os portugueses institucionalizaram, no Estado do Grão Pará e Maranhão, como língua geral, o Nheengatu, que contribuiu para a extinção das línguas particulares, na medida em que todos deveriam utilizar um único idioma.
O Nheengatu passou a ser minoritário depois da Cabanagem, quando o Império estabeleceu que apenas o português deveria ser utilizado.
A professora Ivânia acrescentou que os brasileiros que ainda falam Nheengatu precisam incluí-lo no currículo Lattes como língua estrangeira.
Para ilustrar a importância do da memória viva por meio da língua e das atividades entre os povos indígenas, Bessa falou sobre a construção de casas.
“Um arquiteto ofereceu a uma mulher indígena a possibilidade de implementar recursos que garantiriam que a casa [construída] durasse 100 anos. A indígena se chocou e disse que não interessava que uma casa durasse tanto, pois nunca mais precisaria construir outra e assim o conhecimento se perderia”, contou.
Explicou ao arquiteto que o importante era manter esse conhecimento vivo, muito mais do que ter uma casa que dure 100 anos.
O primeiro dia de ‘Amazonia Now’ foi encerrado com a exibição de um curta metragem de Ivânia Neves sobre seu trabalho com os Suruí. No vídeo, seu amigo falecido Apí fala sobre como os Suruí encantam a vida, contribuindo, por meio desse registro, para a perpetuação desse imaginário.
Acompanhe a cobertura completa do Amazonia Now neste link.




