‘O Estado é abertamente contrário aos povos indígenas; Quanto mais gente morrer, melhor’, alerta Aparecida Vilaça

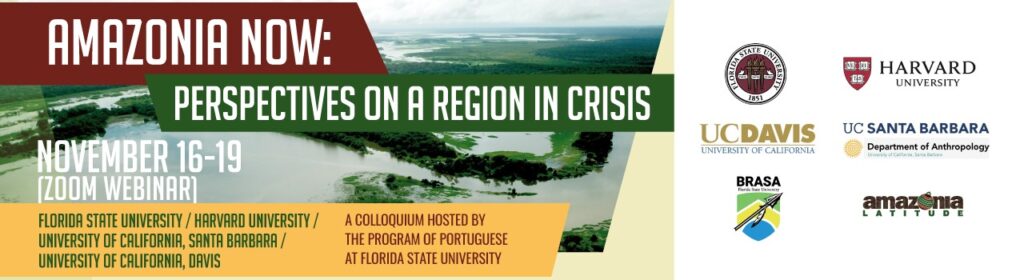
Painel do Amazonia Now discutiu desafios e exemplos de organização além do Estado
Em 2002, uma notícia no jornal O Estado de S. Paulo exibia a manchete “Índios denunciam ação de peruanos”. O motivo da denúncia dos índios, os Ashaninka, era a extração de mogno na fronteira entre Peru e o Brasil, onde está a terra indígena Kampa do Rio Amônea, chamada de Apiwtxa por seus habitantes, a 80 km de Marechal Thaumaturgo, no Acre.
“Nós preservamos 80% das nossas terras e consideramos a área de fronteira um santuário”, disse o então líder de Apiwtxa, Francisco da Silva. A mobilização não era novidade: os Ashaninka haviam conquistado do Estado brasileiro a demarcação dez anos antes. Mas já tinham uma longa história na organização e na luta por direitos.
Essa trajetória e outras lições sobre as relações dos povos originários com o Brasil moderno foram discutidas por Carolina Comandulli, do Colégio Universitário de Londres, Stefano Varese, da Universidade da Califórnia-Davis, e Aparecida Vilaça, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mediado por Amanda Smith, da Universidade da Califórnia-Santa Cruz, o painel “Povos da floresta além do Estado” foi realizado na última terça-feira (17), no Amazonia Now.
Apesar da superação do Estado como provedor ou garantidor de direitos, Aparecida lembrou que, num contexto de pandemia, era melhor se houvesse alguma vontade do poder público de trabalhar com e para os povos originários.
“O Estado é abertamente contrário aos povos indígenas. Quanto mais gente morrer, melhor”, disse a pesquisadora.
A vida é um encantamento
A população Ashaninka está dividida entre Peru, que contém a maior porção, e Acre, no Brasil. Na Kampa do Rio Amônea, Terra Indígena demarcada em 1992, precisaram enfrentar a exploração da madeira e do trabalho. A pesquisa de Carolina Comandulli, que abriu o painel, partiu da demarcação para observar como tem sido a organização dos Ashaninka de Apiwtxa, aldeia que concentra maior parte da etnia no Brasil, fortalecida pelos próprios indígenas para garantir sua sobrevivência e sua tradição.
“Desde a demarcação, os Ashaninka de Apiwtxa têm desenvolvido soluções para serem tão autônomos quanto possível em relação a sistemas externos, sejam religiosos ou políticos”, afirmou Comandulli.
A pesquisadora usou o conceito de design aplicado à área das humanidades, de Arturo Escobar, para investigar a inovação entre os indígenas, que adaptaram os conceitos de cooperativa, escola e economia para sua visão de mundo. Também desenvolveram na aldeia um sistema de conselheiros, reuniões de líderes e assembleias para a vida em comunidade, além de regras de conduta para quando estão fora do território.
Esse modo de olhar e pensar o mundo, a visão xamânica, ganhou um papel central na sua pesquisa.
“É uma forma de comunicação com outros entes, além dos humanos, vitais para a sua construção de uma visão de mundo. Essa visão xamânica precede o pensamento racional e a ação”, disse Comandulli, e apresentou uma explicação de Moisés Piyãko sobre a cosmologia Ashaninka.
No topo, seres encantados e pássaros ajudam os xamãs na sua comunicação com os outros seres, humanos e não-humanos. A figura de um tronco é a representação da Ayahuasca, chamada pela etnia de Kamarampe, vital para a interpretação e a continuidade de seu mundo.
Para o xamã, os sonhos são a continuação da vida, sonhamos acordados com essa continuação. E a vida que acontece agora é a sequência do sonho do avô de Moisés, explicou Comandulli. A vida é um encantamento, previsto pelo ancião no mundo de Kamarampe.
“Esse homem, avô de Moisés, teve uma visão do casamento do filho dele, Antônio Piyãko, com Piti, uma mulher não-indigena. E viu que havia um jeito de conhecerem o mundo não-indígena para proteger seu próprio mundo, algo muito presente na história de Apiwtxa até hoje”, disse.
Independência ou morte
Para Aparecida Vilaça, a ausência de uma centralização e a autonomia entre os Wari, apesar da dependência do Estado, foi o que garantiu sua sobrevivência na pandemia. A pesquisadora da UFRJ trabalha com a etnia, cuja população vive em Rondônia, desde 1986.
“Eles não têm esse tipo de organização, não têm caciques, nada. As pessoas decidem e fazem o que querem”, disse. Nos primeiros contatos, há 30 anos, a população vivia de caça e cultivava os próprios alimentos, mas agora vive com a assistência de programas como o Bolsa Família.
A pandemia de Covid-19, no entanto, evidenciou outro aspecto da relação entre Wari e o Estado. A inação e o abandono, que se repetiram em outros territórios pela Amazônia, levaram os Wari a adotarem práticas que já dominam, uma vez que lidam com perdas por epidemias desde o século XVI.
“Muitas nações indígenas se organizaram sozinhas, foram abandonadas pelo Estado. Não foram alcançadas pelos serviços de saúde, então se articularam com ONGs e seus conhecidos nas metrópoles para organizar doações, bloquearam acessos. Houve episódios tristes de políticos de extrema-direita tentando furar os bloqueios”, lembrou a pesquisadora.
Para Aparecida, esse tipo de ação independente do Estado acontece num momento muito peculiar, em que o governo brasileiro é contrário aos interesses e à própria existência dos povos indígenas. Após o abandono, o meio mais seguro de sobreviver foi recorrendo a isolamento e cuidados dentro das próprias aldeias.
O sagrado é o futuro
“É a tragédia da história ocidental neste território”, disse o professor Stefano Varese, da Universidade da Califórnia-Davis, sobre o abandono e a autonomia dos povos afetados. Com experiência entre os Ashaninka na década de 1960, o antropólogo destaca o conceito de ética da vida, presente entre a etnia.
“Aprendi sobre como a espiritualidade, o sagrado e a ética do sagrado são fundamentais para sua sobrevivência. Argumentei na minha dissertação naquela época, e desenvolvi depois, que a força dos Ashaninka e de muitos povos da América está em sua cosmologia e no seu modo de estar na terra, no universo”, afirmou.
Varese lembrou que isso tem sido desenvolvido há muito tempo, mas é uma preocupação constante, já que instituições e modos de vida ocidentais pressionam os territórios que vivem diferente.
“O preço global das queimadas, provocadas ou acidentais, estão transformando o ecossistema a um ponto geológico. O povo Amazônico, há talvez 18 mil anos, desenvolveu um jeito não de destruir, mas de co-criar a floresta. Muito da floresta que vemos hoje, estatisticamente correto ou não, é antropogênico. É parte da transformação humana”, disse.
A concepção da floresta como algo separado da humanidade, segundo o pesquisador, é uma invenção do Ocidente. “A floresta não é um inimigo, como foi na Idade Média e perto da Renascença na Europa, onde crianças se perdiam e a bruxa aparecia. A floresta é um ambiente amigo. você co-cria, co-evolui com a floresta. E as cerâmicas Ashaninka mostram isso”.
Grande parte dessa visão é ensinada pela cosmologia, pelo sagrado das estrelas, da água, de tudo que cerca a vida em comunidade. De tal maneira que os registros dos Marajoara comprovam a existência de uma floresta participante do desenvolvimento de sociedades.
Limites e separação
Um destaque no debate foi a observação de como estar além do Estado também significa estar além do monopólio da punição, e como os povos lidam com os temas de disciplina na comunidade.
Um dos problemas entre essas relações é a judicialização de questões antes resolvidas em comunidade. Segundo Aparecida Vilaça, era comum entre os Wari que adolescentes de 12 e 14 anos tivessem relações sexuais, mas missionários evangélicos passaram a incentivar os pais a denunciar a prática, o que resultou em jovens Wari presos. E era entendido como algo consensual entre a etnia.
“Então se pode estar além do Estado, mas há esses limites e a interferência dos missionários, com esse julgamento moral”, afirmou.
Entre os Ashaninka, Comandulli destacou que a independência da aldeia Apiwtxa também é um objetivo no tema religioso. Quando alguém foge à regra, há muita mediação, encontros para discutir esse desvio poderiam levar até seis dias e, como último grau de punição, haveria o banimento da pessoa responsável.
“Geralmente há um senso de justiça restaurativa, diferente do nosso conceito romano de punição, um jeito da comunidade resolver o problema coletivamente para restaurar a harmonia”, concordou Varese.
Apesar de desenvolverem outro entendimento, sociedades como a dos Ashaninka mesclam, quando pertinente, alguns conceitos republicanos de ordem. E esse conhecimento, embora indique melhores caminhos para o futuro, ainda é mantido separado da ciência moderna.
Quando há algum consenso entre políticos progressistas e ambientalistas, por exemplo, sobre conhecimento e práticas dos povos originários, a finalidade fica restrita a adaptações para o modo de vida ocidental.
A autonomia do conhecimento indígena, no entanto, está presente quando não há dominância da lógica de mercado em suas atividades. Existe quando decidem que uma árvore é sagrada, se podem usá-la sem danificar o ecossistema.
Embora o pensamento além do Estado seja necessário para superar as crises ocidentais, o momento no Brasil é outro. Segundo os especialistas, seria positivo se os povos originários e a sociedade pudessem contar com o governo brasileiro no momento da pandemia e na garantia seu direito à terra.
Talvez como consequência da autonomia e da necessidade de organização para sobreviver, indígenas estão disputando eleições e venceram em diversos lugares. Modificando os braços locais do Estado para aprimorar o trabalho. O ashaninka Isaac Piyãko, por exemplo, foi reeleito para a prefeitura de Marechal Thaumaturgo, no Acre. Em primeiro turno.
Acompanhe a cobertura completa do Amazonia Now neste link.




