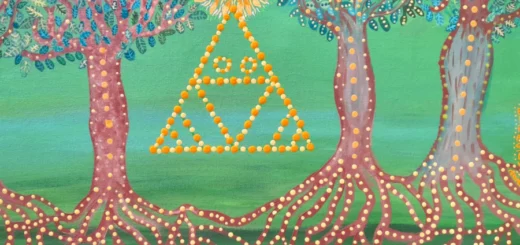Entre horizontes e a utopia: a arte de Eliberto Barroncas como eco da alma amazônica
Em entrevista à Amazônia Latitude, o multiartista amazonense apresenta sua cosmovisão da Amazônia como raiz, destino e matriz simbólica para invenção de mundos


Nascido e criado no meio da floresta, o multiartista Eliberto Barroncas tem a Amazônia como matriz simbólica das suas obras.
Foto: Projeto Mormaço Sonoro DaVarzea.
Versos de Amo – Raízes Caboclas (Eliberto Barroncas)
Eu já nasci cantador
É luz que vem de menino
Farol de abrir onde eu for
As sombras do meu destino
A mão da velha parteira
Vi no primeiro segundo
Era um barquinho na beira
Do mar imenso do mundo
“Por que uma criança nasce no meio da Amazônia?” A questão, formulada por Eliberto Barroncas, 67, é uma de suas inquietações de cunho existencial, político e poético, uma tríade que costuma se amalgamar em suas reflexões e obras. Para o artista amazonense, o nascimento não se dá por acaso. Cada ser humano, segundo ele, é plantado pelo universo em um espaço específico, de onde deve nutrir sua cosmovisão e engrandecer o planeta a partir dos elementos simbólicos que compõem o seu lugar.
Esse olhar atravessa toda a trajetória de Barroncas, um artista múltiplo e experimental, com trabalhos nas artes plásticas, na poesia e na música, como percussionista. E, ainda, na sala de aula, como professor de Artes em escola pública, pesquisador acadêmico, mestre de capoeira e inventor de bio-instrumentos.
Sendo ele próprio uma criança que nasceu no meio da Amazônia, especificamente na beira do paraná do Autaz Mirim [na época, o lugar pertencia ao município de Itacoatiara, mas hoje faz parte de Autazes], foi recebido no mundo em 1958 pelas mãos da avó, Dona Maria, uma conhecida parteira da região.
Na casa ribeirinha, a música preenchia os dias: o pai, Gidú Barroncas, tocava banjo e violão nas festas de beiradão; a mãe, Maria Hortência, mantinha viva a musicalidade no cotidiano; e o tio, o saxofonista João Barroncas, marcava presença nos bailes locais.
Os sons da floresta, a oralidade, as ladainhas das capelinhas, os batuques improvisados após as festas de santo e os ecos do rádio que transmitia músicas do programa ‘A Voz da América’ moldaram sua primeira escuta. Foi uma infância marcada pela confluência entre natureza, o sincretismo religioso [pajelança, umbanda e catolicismo] e a herança musical familiar, juntamente com a curiosidade insaciável de quem queria descobrir “o que havia depois do horizonte”.
Na juventude, a penúria material e a necessidade de estudo levaram Eliberto e a família a migrar para Manaus. Era 1975, época de intenso êxodo rural para a capital, que explodia com a Zona Franca. O bairro da Cachoeirinha lhe abriu o caminho para o samba, a Praça 14 e a capoeira, com seus cantos de roda, berimbaus, atabaques e cachaça. Nesse trânsito entre o rural e o urbano, o interior e a metrópole, Eliberto encontrou terreno para expandir sua arte.
Formou-se em Educação Artística pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em 1988, participando ativamente da cena cultural de Manaus. Em 1990, passou a integrar a banda Raízes Caboclas, fundada pelo seu irmão, Celdo Braga, e que se preparava para tocar na ECO-92, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992.
Eliberto ainda compõe o grupo, agora trabalhando na concepção dos discos e shows. Seu trabalho com a banda e solo, tanto musical, quanto nas artes plásticas, já foi reconhecido nacional e internacionalmente, rodando o mundo em shows e exposições. Ele é um nome incontornável quando se fala em arte produzida no Amazonas. Aos 67 anos, mantém um ritmo intenso de criação, colaborando com diversos projetos de outros artistas e atuando nas suas próprias produções.
Nunca mais deixou de buscar formas de dar corpo ao horizonte que fitava em sua infância no interior.
Revolução pelo lúdico
Arte e clima. Essa relação, que poderia soar improvável, me atravessou em forma de epifania durante um delírio coletivo na beira do asfalto do pequeno e empoeirado município de Bujari, no Acre. Ali, em um fim de tarde abafado e abrasador, eu era um dos macacos-sauins que tocava violão para receber o gigante Mapinguari, enquanto dezenas de crianças gritavam fascinadas com o protetor da floresta.
Ele surgiu imponente, com três metros de altura e um olho só no meio da testa, cortejado por um coro de sauins. O teatro musical de rua da Companhia Vitória Régia fazia a floresta cantar sua própria defesa contra o fogo, a motosserra e o trator.

Apresentação da Cia Vitória Régia no município de Bujari, Acre. Foto: Festival Matias de Teatro de Rua.
No palco improvisado, ao meu lado, outro músico-sauim fazia a percussão pulsar. Era Eliberto Barroncas, meu cúmplice naquela revolução pelo lúdico. Essa é a energia única que o teatro de rua nos proporciona. Com os meus olhos e coração de sauim, eu via algo se transformar dentro e fora de mim. Arte e clima se encontravam no meu corpo-esquina, como um portal aberto pela força coletiva de um canto.
Naquela semana de setembro de 2024, no Festival Matias de Teatro de Rua, compartilhamos não apenas músicas e cenas, mas a convicção comum de que a arte pode ser um instrumento de resistência. Era um espetáculo infantil que trazia a magia simbólica da floresta. Seres fantásticos abordavam a temática da preservação ambiental, encantando as crianças por todas as escolas e festivais que passamos.
“O tempo poetisa o passado”
Meu primeiro contato com o trabalho de Eliberto aconteceu quando eu ainda era criança. Minha avó, Maria de Fátima, costumava ouvir Raízes Caboclas na nossa casa num subúrbio de Itacoatiara, interior do Amazonas, onde nasci, cresci e fui criado.
As músicas do grupo traduzem em lírica e sonoridades as vivências comuns do ser amazônida. Creio que era a forma que minha avó tinha de se reconectar com suas raízes ribeirinhas, agora distantes na memória e espaço.
Quis a vida que nossos destinos migrantes se encontrassem na capital. Nem acreditei quando soube que iríamos tocar juntos na Companhia Vitória Régia, com a qual ele já colabora há muitos anos. Hoje, dividir com ele o mesmo palco é também reencontrar uma parte da minha própria história, assim como acontecia com a minha avó.
Na primeira vez que saímos para comer e tomar umas cervejas depois do ensaio, ele me falou da sua pesquisa de mestrado, que envolve as paisagens sonoras da Amazônia. Ali, fui apresentado à sua busca para traduzir em som a melancolia da luz de uma lamparina no breu das noites ribeirinhas.
“O tempo poetisa o passado”, me dizia em tom de conselho autobiográfico. Sentar para conversar com o Eliberto é a certeza de que teremos uma aula mágica. Ele tem o dom de ensinar e envolver qualquer um com suas palavras, que sempre deságuam na poesia.
É com essa intensidade, e com a serenidade de quem sabe ouvir os encantos da floresta, que Barroncas reflete sobre arte, memória, meio ambiente e as lutas culturais da região em entrevista à Amazônia Latitude.
Para esse material, o entrevistei no espaço cultural Atelieco, Centro de Manaus, um pouco antes da aula semanal de percussão que ele dá gratuitamente toda quinta-feira.
Amazônia Latitude: Onde você nasceu?
Eliberto Barroncas: Eu nasci e me criei no interior de Itacoatiara, município do Amazonas, na beira de um paraná chamado Paraná do Autaz Mirim. Não se tratava de uma realidade de vila, nem de pequena cidade, é uma realidade bem ribeirinha mesmo, casa isolada. Eram casas esporádicas ao longo do beiradão, sempre na beira do rio, na beira de água. A gente sabe que a densidade demográfica aqui é muito baixa. Então, a região onde se trata de uma realidade assim, de casas isoladas, as distâncias são bem grandes.
Como era a vivência lá?
A vivência era de uma família de agricultura. Meu pai foi filho de seringalista falido, depois ele cortou seringa e a gente trabalhava na roça, pescava. Essa é a realidade bem natural da beira dos rios do Amazonas. Tudo o que eu queria saber era o que havia depois do horizonte. A gente olha ao redor, tem horizonte de todos os lados. E lá era um horizonte cercado de floresta. Pra todos os lados que a gente olha tem floresta. Mesmo ao longo do rio, no final, quando o rio dobra, tem uma floresta de fundo. O céu está sempre encostado atrás da mata, ele pousa atrás da mata.
Como toda criança ribeirinha, num lugar onde não há brinquedos pra comprar, eu confeccionava brinquedos. Adaptava caroço de babaçu, caroço de manga e botava perna, dava um jeito de transformar aquilo em um objeto que representava os animais. Com pouco mais idade, eu passei a fazer esses objetos de argila. A minha tia era ceramista e eu via como ela fazia as louças, e fazia pequenas esculturas.

Eliberto Barroncas tem a vida dedicada à arte e educação. Foto: Projeto Mormaço Sonoro DaVarzea das Artes.
Então você sempre teve essa sina de criar, trabalhar a imaginação e o lúdico?
Sempre tive. Essa inquietação pra saber o depois do horizonte já é uma coisa poética. Porque o horizonte é infinito e saber buscar o depois do horizonte, é buscar o inexistente. E quando a gente busca o inexistente, já é um sinal de uma pessoa voltada a acreditar na utopia, naquilo que não é visível, mas pode ser real.
Foi no interior que você teve teus primeiros contatos com a música. Como foi?
Meu pai cantava de noite e eu aprendi ouvindo ele cantar. Ele tocava banjo e violão. Depois parou. O meu tio, irmão do meu pai, tocava sax. Esse tocou até quando a gente veio pra Manaus. Ele veio pra Manaus, tocou aqui em Manaus, em algumas situações, eu cheguei a tocar com ele também. Eu costumo dizer que a minha primeira experiência musical foi com o meio, com a paisagem sonora do meio. Barulho do mato, dos animais.
Isso já te instigava sonoramente?
Já. Não só a mim, mas como a toda pessoa que habita a região. É muito comum os adultos imitarem pássaros, e as crianças querem aprender também, um tipo de assovio imitando os cantos. É a imitação do meio de um modo geral. Como as sonoridades estão muito presentes na realidade amazônica, imitar os sons era uma coisa que fazia parte das brincadeiras. Eu comecei batucando em caixa, tocando em cima da mesa. Nas festas, a formação da banda era o saxofone, o instrumento principal, banjo, que era um instrumento de harmonia e bateria. Às vezes, um pandeiro e um trombone. Era o que hoje se denomina música de beiradão, que não se trata de gênero, mas sim uma prática.
Como foi a vinda para Manaus?
Foi uma ruptura difícil, pros meus pais principalmente. Eles não queriam vir, mas sempre falaram [que viriam] quando chegasse na idade de estudar, porque lá não tinha como passar da alfabetização. Eu estudei o que seria o primário todo lá, mas nem servia formalmente. Fiz um supletivo quando cheguei aqui, com 17 anos já.
Veio a família toda, nós vendemos tudo. Essa ruptura foi difícil porque, quando eu vi do motor [barco] que meu pai alugou para nos trazer, a casa onde eu nasci e me criei, nasci lá dentro dessa casa, sabia que não voltaria mais a habitar aquela casa.
Nós viemos naquele fluxo do êxodo rural em 1975, época da Zona Franca [de Manaus] bombando e a gente veio pra se aventurar mesmo e pra estudar. Meu pai foi ser vigia noturno quando chegou aqui, minha mãe foi costurar. Chamava de costurar pra fora, costurar pra ganhar dinheiro. Virou uma coisa terrível, porque ela tinha que se desdobrar costurando pra gente poder comprar o básico. Terminei o Ensino Médio na escola comum e depois fui pra faculdade de Educação Artística na UFAM, com 24 anos.
Foi nesse período que você entrou no Raízes Caboclas?
Não, nesse período o Raízes Caboclas não existia ainda. A banda foi fundada em Benjamin Constant pelo Celdo Braga, que é meu irmão, em 1982, e ficou até 1989 lá com o grupo. Eles vieram pra Manaus porque teria a ECO-92 . Vieram os fundadores: o Celdo, o Júlio Lira, o Raimundo Angulo e o Osmar Oliveira. Um dos integrantes, que era o Rubens Bindá, que veio também, voltou porque ele tinha família lá. Foi aí que passei a fazer parte do grupo, em 1990.

Divulgação de espetáculo da banda Raízes Caboclas na Universidade Federal Fluminense (UFF) no período em que foram para o Rio de Janeiro participar da ECO-92. Fonte: O Fluminense, 23 jul.1992.
Como era o cenário artístico em Manaus nessa época?
A música autoral estava ainda se configurando na cena, porque a música autoral é produto dos festivais. Tinha o Festival Universitário, o Festival de Música do Parque Dez, tinha um festival também na Ponta Negra. Depois que veio o Fecani [Festival da Canção de Itacoatiara] lá em Itacoatiara. Mas o Festival Universitário é que motivou algumas pessoas começaram a compor. Já havia uma preocupação [ambiental] motivada pela ECO-92, que aconteceria no Brasil. Foi quando adicionaram na grade curricular a disciplina de Ecologia. Eu estava finalizando o ensino médio quando chegou a disciplina Ecologia. O professor teve que explicar do que se tratava, porque ninguém nem sabia.
Como era tua cabeça, na época, em relação a essas questões de meio ambiente e mudanças climáticas? Já era algo que te preocupava?
Não só o meio ambiente, mas as questões sociais. Quando eu cheguei [em Manaus] com 17 anos, tinha um componente aí que é muito relevante: eu comecei a fazer capoeira ali na Praça 14 [bairro reduto da população negra na capital]. Isso me deu um norte. Eu senti na pele a discriminação. A cidade completamente alheia aos valores culturais da Amazônia, das culturas da floresta. Como eu vim dessa realidade, eu não me senti contemplado aqui na cidade e a capoeira me deu um norte.
A capoeira é revolucionária por natureza. O movimento da Praça 14, que era um movimento de luta do movimento negro, do Nestor Nascimento, que a gente chamava de Zumbi do Amazonas. Um cara que foi advogado, que apanhou e foi preso na ditadura militar. Ali eu adquiri a consciência voltada pra igualdade social, racial e de toda a natureza, nesse contexto, foi a minha escola. Eu já tocava percussão, não profissionalmente, fazendo samba na Praça 14. Foi uma convivência muito boa, convivência de comunidade. Jogava capoeira todo fim de semana ali. Tomava cachaça. Capoeira, cachaça. Eu não tinha dinheiro mesmo. Com o barato a gente fazia um grande barato.
Como que essa experiência foi indo pra tua linguagem artística? Você já era artista visual nessa época?
Com 18 anos eu iniciei um curso de arte no Senai. Tinha um professor lá, de desenho técnico, que fez um concurso num dia de sábado e ele viu o meu desenho. Não era nem dia de aula, sábado ele abriu uma exceção pra gente fazer cartolina e fez um concurso pra estimular. Foi a única vez, em dois anos, que ele fez. Eu tenho isso como uma graça divina, porque isso mudou minha vida. Ele viu os trabalhos depois que todo mundo entregou, pegou o meu e mostrou perguntando “De quem é esse trabalho aqui?”. Eu disse que era meu. Ele me chamou e disse: “Rapaz, você é um artista”.
O que era o desenho?
Era uma paisagem. Ele determinou que a gente tinha que fazer o que quisesse utilizando figuras geométricas, eu construí uma paisagem. Ficou interessante, foi a primeira vez que eu usei tinta guache, não tinha no interior, só desenhava a lápis. Ele disse que eu era um artista e me indicou fazer aula no Senac. Eu fui pro Senac, cheguei lá e tinha Desenho Publicitário. Eu não sabia o que era, mas era arte e eu me inscrevi nesse curso. Era uma formação pra trabalhar com publicidade, que seria hoje design gráfico. Eu fiz e aconteceu a mesma coisa. Cada um na sua prancheta. O professor era formado em Belas Artes na França, um goiano, um artista maravilhoso. Ele rodou e parou na minha mesa. Não por coincidência, mas parece uma coincidência, porque eu não acredito em coincidência, são providências do universo, ele disse: “você é um artista, rapaz”. A mesma coisa que o outro falou e fez muito mais. O curso começava às sete horas [da noite], ia de sete às nove. Ele disse: ‘Se você tiver tempo pra chegar seis horas, de seis às sete, venha pra cá que eu vou te dar aula de desenho, gravura, de arte visuais’. E durante oito meses eu passei a fazer a aula de artes visuais com ele e aulas de publicidade.
Ele viu teu talento e te adotou mesmo.
É por isso que eu faço esse trabalho social, porque eu recebi essas mãos que me conduziram. Se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui agora. A minha vida teria tomado um outro rumo. Mas é porque tinha que ser assim. A arte aconteceu logo que eu cheguei. Dois paralelos: a capoeira, que é uma coisa forte e que me deu a consciência de classe, como eu era discriminado por ser do interior, eu passei a ser um um ativista silencioso, mas praticando nos bastidores, nunca indo pra frente, do movimento negro, por exemplo. Eu contribuí como como eu pude, mas nunca fui pra frente, porque achei que eles é que tinham que ter voz. Hoje, quando eu penso na minha postura, eu acho que foi muito acertado.

Eliberto Barroncas, que também é mestre de capoeira, fala no Encontro Internacional de Capoeira 2025, da Frente Unida da Capoeira Tradicional no Amazonas. Foto: Arquivo Pessoal.
Você falou sobre como Manaus é cruel com quem vem do interior e como a cidade é alheia aos valores amazônicos, indígenas, ribeirinhos, etc. É uma brutalidade que você enfrentou com a tua arte, abriu caminhos e floreou a cidade a partir das suas vivências, sua visão de mundo colocada em obras musicais e visuais, sendo um agente importante da cultura aqui. Como você enxerga esse processo?
Meu amigo, é uma coisa muito interessante. Da infância, eu vim abastecido de sonhos, de elementos sonoros, da minha liberdade de construir metáforas pra interpretar o mundo. Depois teve o choque cultural, da ruptura com esse lugar, chegar numa cidade adversa, de costas pro rio e eu consegui ter essas duas mãos que me direcionaram. Esse todo de lá até aqui é o que eu sou hoje. Eu só fui adquirindo mais ferramentas. É uma trajetória sem ruptura, eu posso dizer. Mesmo que essa migração tenha sido dolorida, eu fiz da minha trajetória as minhas próprias ferramentas. Todos esses elementos estão no que eu faço hoje.
A consciência do meio ambiente não é só um fazer, é um grito existencial. Eu posso dizer que sou um praticante da maneira como eu acredito que o mundo possa ser melhor e dos instrumentos que podem promover essa melhoria do mundo, que é sempre a educação, mas não a educação tal como está posta nas grades curriculares formais. Pelo fato de eu ser professor de Artes pelo Estado, eu sei como não se deve fazer e sei que é muito difícil a gente fazer, dentro de uma estrutura como essa que está posta, fazer o diferente, fazer a diferença. A própria estrutura física dos espaços não são favoráveis. É muito mais fácil despejar conteúdo pra quem quiser que pegue, como se joga uma cuia de milho no terreiro pras galinhas comerem. Se apropriar das particularidades daqueles que querem um pouco mais, reconhecer um talento específico, como o professor reconheceu em mim e eu, pra devolver pro universo, procuro fazer isso, mesmo na escola comum. Já contribui pra muitas consciências nessa direção.
O artista sempre funcionou como uma antena que vai captando os anseios, as inseguranças, os afetos e as alegrias de uma sociedade. Pra você, hoje, é diferente do que era antes ser artista? Como você absorve esse contexto que a gente tá inserido atualmente, não só mudanças climáticas, mas toda essa loucura global do mundo, de guerras e conflitos?
Vamos considerar que a América do Sul é como se fosse um bolo que, politicamente, todos querem uma fatia. Os países mais antigos eles olham pra América do Sul buscando ver de que forma é possível tirar uma tirar proveito disso aqui. Como países jovens, nós assimilamos os ‘ismos’ artísticos da Europa [renascentismo, iluminismo, romantismo]. Então, o fazer artístico, em geral, é baseado no que a Europa ofereceu. Como nós temos um sistema educacional que não contempla os próprios saberes do país, é muito fácil isso, porque você tem um um corpo discente no país inteiro desenraizado, porque as culturas de resistência estão à margem da escola. Aí você tem um povo aberto a também fazer o que já fizeram lá atrás na Europa. Este fazer artístico, em detrimento do que somos, é quase que copiando isso. Pessoas que desenvolvem a arte por esse viés, que é a maioria, estão com dificuldade hoje, porque quando o mundo foi mudando, você fica sem saber o que fazer. Não tem vindo mais novidades estéticas do mundo. A minha arte vem da minha necessidade de afirmação existencial. Eu compreendo as transformações do mundo e compreendo as estéticas do mundo pela minha formação acadêmica. Eu sei o que são os ‘ismos’, sei o que que foi o modernismo, na Europa e no Brasil, a tentativa do Oswald de Andrade, em 1922, de implementar um modernismo antropofágico. Foi uma sacada e oposição boa. Depois o Manguebeat e o Tropicalismo praticaram isso. Então, a minha arte, hoje, ela é antropofágica, eu posso dizer, mas não só. Porque eu pego os referenciais, mas ela é a partir das minhas vivências, das minhas memórias, do que vem da espiritualidade, da floresta, dos referenciais, também, da desigualdade, em relação aos povos indígenas, a partir do meu viver.
O avanço do capitalismo destrói não só os nossos recursos naturais, mas também modos de ser e existir dos povos originários. Não é apenas um modelo de produção econômica, mas também de subjetividades. Acho interessante como você traz a cultura e as artes como uma maneira de resistir a esse avanço sobre as nossas subjetividades.
É a maneira. Tem a ciência também, porque traz conhecimento, mas a cultura é a ferramenta principal, porque o ser humano desenraizado, ele é frágil. É como uma árvore com raízes frágeis que cai com o primeiro temporal.
Estava conversando com o fotógrafo Beto Margem do Rio sobre como Manaus matou todos os seus igarapés e ele me falou da sua preocupação em como essa ação humana espanta os Encantados [seres espirituais associados à natureza que compõe as cosmovisões indígenas]. Há uma destruição não só material da natureza, mas uma perturbação de elementos no campo espiritual das encantarias da Amazônia. Como você vê essa questão?
Eu vejo com muita preocupação, uma preocupação do ponto de vista existencial. Tem uma preocupação do ponto de vista sociocultural, porque esses conhecimentos dos mais velhos se deram a partir da vivência no espaço geográfico. Mas a questão fundamental é: por que uma criança nasce no meio da Amazônia? É um plano do universo. Eu acho que o universo planta seres humanos, ele emerge das culturas da existência maior para que esses seres humanos engrandeçam o planeta a partir das referências que eles recebem daquele espaço. O planeta é diverso e cada ser humano, no seu espaço, se ele for respeitado na sua potencialidade e construir o seu pensamento, a sua cosmovisão dentro daquele espaço, se as formações educacionais contemplassem essa particularidade, o mundo seria outro.
O humano sistematiza uniformizando, matando esse projeto do universo, que é formar pessoas diferentes pra que que o planeta, que é diverso por natureza, possa evoluir a partir dessa diversidade. A nossa preocupação com o meio ambiente precisa considerar essas questões. Toda a cultura primária se sustenta a partir dos referenciais dos Encantados. Eles são a constituição que move aquele povo, seus valores étnicos e que mantém o equilíbrio de cada povo. Se você mata os Encantados, cerceando a continuação desses valores, ferrou. Resulta no que a gente vê hoje: suicídio indígena, os jovens não querendo mais o referencial étnico dos bisavós. O projeto ideológico do país de uniformizar pra servir aos dominantes, funcionou, é muito eficaz. E nós não tivemos o direito de compreender de fato a questão porque a escola não ensina. O nosso compromisso é muito mais profundo do que tão somente erguer bandeiras.
Pra que que serve o artista hoje?
O artista serve pra mostrar pro mundo que o simbólico é inerente ao ser humano, que há a possibilidade de uma criança viver ao longo de toda a sua trajetória no planeta, porque o artista é a criança que não envelheceu. A criança é poeta por natureza, é artista por natureza. O artista é aquele que mostra pra humanidade inteira que a arte é tão profunda quanto o sonho de uma criança.
Porque se a criança diz que um traço é uma paisagem, ela sintetizou a paisagem num traço, ela acredita nisso, ela constrói metáforas e o artista também constrói metáforas. Ele precisa acreditar com a verdade que uma criança acredita que um garrancho que ela faz é o espelho daquele recorte do mundo real. A arte cumpre essa função principal, em todos os segmentos e nas linguagens simbólicas.
Ela está em todos os nossos gestos. Quando a gente vai a um encontro amoroso, há uma performance em que a gente bota uma roupa, um perfume. A arte é isso, o simbólico é isso. O adorno é fundamental. Arte é uma metáfora palpável que você pode olhar e ver que o mundo é muito mais profundo do que a minha vã filosofia.

Eliberto Barroncas faz trilha sonora em espetáculo de dança da coreógrafa amazonense Francis Baiardi. Foto: Grupo Picolé da Massa.
Você falou em sonhos e parece que é cada vez mais difícil para a humanidade sonhar e pensar num mundo diferente. Tem um livro chamado Realismo Capitalista, do autor britânico Mark Fisher, que tem um subtítulo certeiro: “É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”. Me parece que o artista vem justamente para dizer para as pessoas que existem outras possibilidades.
O artista é a consciência. Por que todas as ditaduras atacam a arte? Porque é a luz. Tem a historinha de João e Maria, que os irmãos foram brincar no bosque e se perderam. A bruxa má pegou as crianças e prendeu. Ela alimentava as crianças pra depois comê-las. O capitalismo faz isso: ele dá a educação pra promover mãos aptas pra produzir e servir. Ele não educa a pessoa para ela mesma se engrandecer e aprender a pensar, mas sim pra engrossar o caldo daqueles que querem subir. É uma ideologia pra estimular o desejo de querer ascender, que é uma coisa terrível. As filosofias orientais e o viver dos povos indígenas, todos esses conceitos, são horizontais. O capitalismo supostamente promove a ascensão hierárquica e você briga, mata, rouba por isso. Coloca irmão contra irmão.
Pra você, qual a relação possível entre cultura e mudanças climáticas?
Tem tudo a ver. Quando eu era criança, fazia arte pra interpretar o mundo. Quando eu vim pra Manaus, eu passei a fazer arte pra dizer pro mundo que é possível não ser só daquele jeito. Eu me negava a percorrer aqueles caminhos que estavam sendo propostos e sabia que poderiam existir outros caminhos. Hoje, eu faço arte pra mostrar que o ser humano é muito mais profundo e precisa fazer valer essa sua profundidade existencial, trazer isso à tona pra que seja um contraponto a essa máxima da superficialidade. Eu faço arte pra instigar um olhar para dentro do existencial. A arte, em qualquer mudança do meio, ela pode se adequar a isso. Porque ela é o nosso grito de libertação. É o nosso grito de autoafirmação também.
Isso me lembrou aquela escultura que você tá fazendo, uma obra chamada Tempo Anciã. Pode falar um pouco dela?
Quando eu era criança, na região onde nasci, era próximo de uma comunidade Mura [etnia indígena], num lugar chamado Murutinga [atualmente no município de Autazes]. Tinha aldeias e muitos já habitavam as beiras de rio, principalmente os igarapés. Tinha um comércio, uma casa flutuante, que comprava os produtos dos agricultores e revendiam esses produtos em Manaus. O conceito social em relação aos Mura era de que eles eram inferiores. Tudo aquilo que era ruim, diziam “menino, vai te ajeitar, tu parece mura”, “mura que é assim”, era uma coisa terrível. Eu ficava muito chocado com isso.
Nos meus brinquedos com barro, eu esculpia mulheres Mura com a cabeça baixa, da maneira como elas entravam no flutuante ali pra vender algum produto e comprar alguma coisa. Já em Manaus, eu passei a fazer esculturas que já vêm de muito tempo. Eram essas mulheres Muras que eu fazia. Elas não tinham olhos, era um olhar sem olhos. Durante a pandemia, os negacionistas diziam ‘ah, esse negócio de covid é uma gripezinha, não mata ninguém não, só tá morrendo velho’. Ora, só tá morrendo velho? A gente sabe que o país, por si só, já é excludente com os saberes. Se você disser que o velho pode morrer, você está dizendo que todo saber pode morrer e dane-se os conhecimentos e sabedorias. Eu fiquei muito impactado com isso no isolamento.
Eu passei a pensar um tempo anciã, um tempo feminino. Um tempo considerando que o mundo ocidental é patriarcal. O Deus real, no meu entendimento, é multicultural, está presente em todos os elementos da vida, portanto Ele não pode ser somente o Deus masculino que é uma invenção do homem. Então, esse tempo anciã é o tempo sábio, porque todos os sábios do planeta tem o tempo como sendo o grande mestre. Eu passei a fazer uma série de esculturas, serão 12 no total, que eu vou expor. Na primeira escultura, ela está numa posição de feto, mas ela é velha. É o tempo se reinventando e se mostrando dessa forma. Elas são estruturas independentes, mas é a mesma mulher. Aí ela vai nesse despertar dela, expressionista, tentando pegar no tempo as mãos, os pés. Vai chegar uma hora que o tempo vai carregar o peso de si mesmo. É uma dança, o corpo dança nesse existir. É muito espiritual essa parada. É um parto, tem um impacto existencial também.
No ano passado aconteceu a COP 30 em Belém. Você, tocando com a banda Raízes Caboclas, participou da primeira vez em que o mundo se reuniu para discutir mudanças climáticas, que foi a ECO-92 no Rio de Janeiro. Como foi essa experiência e o que você espera desse novo encontro a ser realizado na Amazônia?
Passamos três meses no Rio de Janeiro, fomos convidados a tocar no evento. Foi a primeira grande reunião dos países em torno do assunto. Ela foi muito semelhante aos meus sonhos e minhas práticas, estava todo mundo lá, indígenas, negros, na luta. Os povos indígenas, a partir dali, ganharam força e tomaram consciência de que a luta não tinha que ser isolada de uma etnia, eles passaram a, silenciosamente, construir uma força coletiva. A luta dos povos indígenas não parou. Essa reunião foi uma tomada de consciência que fez com que hoje a situação seja outra. Eu sei que a calamidade continua, a invasão continua, as mortes continuam, o genocídio continua, mas hoje eles estão muito mais preparados nesse aspecto. Hoje eles têm voz, com preço de muito sangue, eles têm voz. A voz de Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Djuena Tikuna, Davi Kopenawa, Nego Bispo, que era uma voz quilombola, tem muitas vozes.
O Brasil, na época, forjou seu compromisso com a cultura, levou coisas enganosas. Muitos depoimentos de indígenas envergonharam os governantes, porque eles abriram o verbo, o Brasil passou vergonha, se é que tem vergonha. Eu vi o Gilberto Gil discursando. Nós dividimos o palco com a Tetê Espíndola. A galera toda no camarim. Todo mundo acreditou, meu amigo. Havia um clima de “agora vai”.
Seria uma vergonha não ir, com tanta gente reunida, com tantos comprometimentos públicos. Como a vergonha é uma coisa que não é todo mundo que tem, acabou que não foi.
Hoje eu não tenho nenhuma expectativa da maneira como eu tinha, mas acho que as lutas se fortificaram. Os pontos de resistência se consolidaram. Hoje tem muitas vozes potentes. É muito importante que os encontros não morram quando eles terminam. Muitas lutas e muitos segmentos se fortificaram a parte dessa coisa mácula, a margem. A gente tem que continuar mexendo a panela, a gente pode avançar, meu amigo, a despeito de tudo, a gente pode avançar. O avançar individual ele soma com o coletivo. Se cada um avançar na sua trilha, a gente vai se fortalecendo. O individual tem que existir como uma particularidade crescente na soma do desse grande paneiro que a gente vai fazendo.
Texto: João Felipe Serrão
Montagem de página e acabamento: Alice Palmeira
Revisão: Juliana Carvalho
Direção geral: Marcos Colón