Caubóis e Índios: A foto do desertor
A luta contra o Imperialismo e o fascismo: uma jornada do passado ao presente
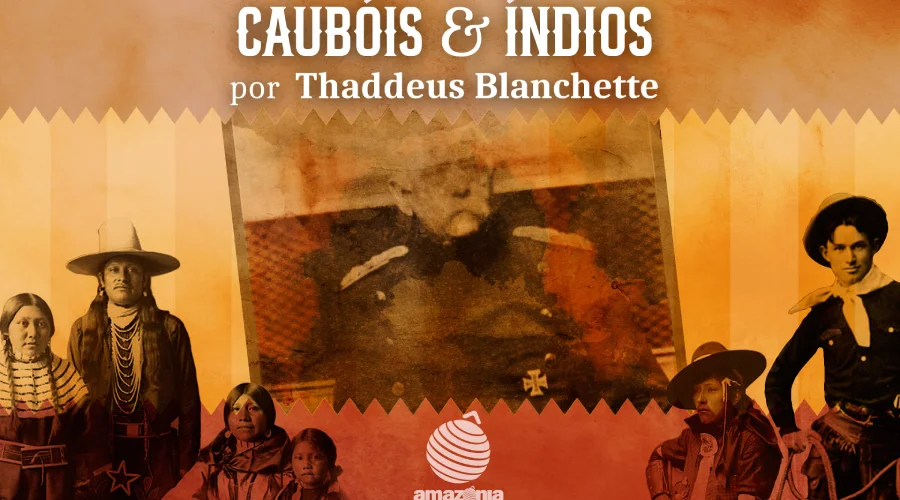
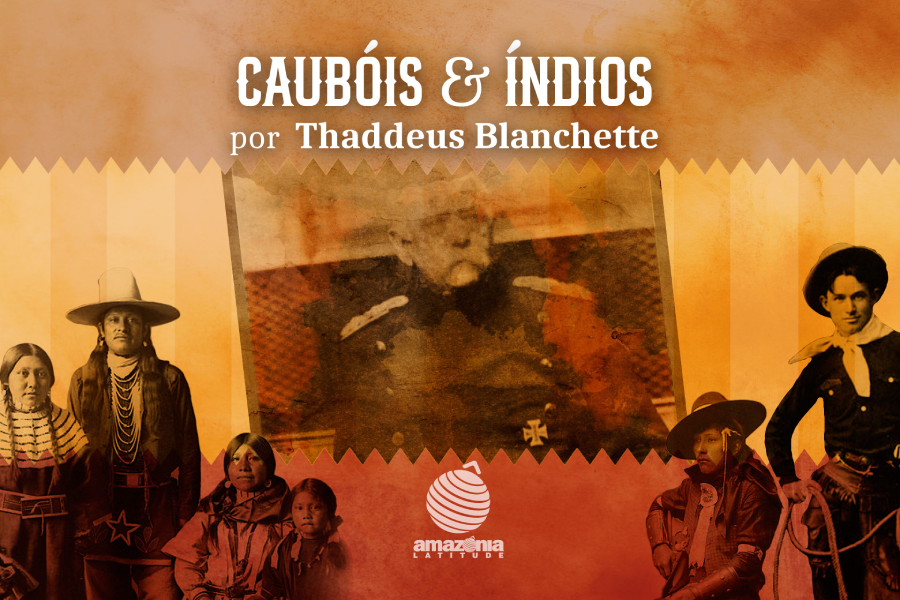
Na parede da casa de minha avó paterna tinha uma foto de seu avô, que fugiu da nascente Alemanha Imperial para não ter que lutar nas Guerras de Consolidação de Bismarck.
Foto: German Federal Archive. Arte: Fabrício Vinhas.
Em agosto, passei pela minha 58ª volta nesta terra. Essa passagem de ano foi particularmente pesada para mim, pois — como meu pai adora me lembrar — 57-58 anos é quando muitos dos homens na família dele acabam morrendo de forma fulminante e minha saúde não anda bem nos últimos anos.
Mas isso não é o que me fez ser meio deprê neste aniversário.
Meus amigos de longa data — particularmente os antigos companheiros de militância anarcopunk da década de 1980 — sabem que tenho passado minha vida adulta inteira tentando entender e lutar contra o imperialismo e racismo dos EUA, intuito que tem norteado toda a minha antropologia, direta ou indiretamente.
Resumindo uma longa história, estava bem alerta aos perigos do fascismo nos EUA já na década de 1980. Quando migrei para o Brasil em 1990, eu recomendava autores americanos desconhecidos naqueles tempos, como Noam Chomsky, Howard Zinn, Mike Davis, Vine Deloria Jr., e Ward Churchill aos meus amigos e colegas brasileiros, apontando as experiências históricas do passado estadunidense como as raízes de um provável futuro fascismo popular. Ouvia sempre, mesmo de meus amigos brasileiros bem “di isquerda”, que “Não é bem assim! Os EUA são a democracia mais rica e estável do mundo!”… e assim por diante.
Então, agora parece que a profecia se cumpre. Quero gritar “Avisamos! Tentamos!” Mas de que adiantou? Parece que ninguém queria ouvir e, de certa forma, muita gente ainda não quer ouvir. E, afinal das contas, minha geração da esquerda militante americana levou a derrota mais fulminante de toda a história do país. Parece que restou quase nada daquilo que a gente lutou tanto para construir.
Mas, avisamos. E daí?
Na parede da casa de minha avó paterna tinha uma foto de seu avô, que fugiu da nascente Alemanha Imperial para não ter que lutar nas Guerras de Consolidação de Bismarck. Pelo menos reza a lenda familiar. Só temos uma foto dele, ainda vestido em seu uniforme militar, e o fato que ele nunca conseguiu ser cidadão EUAmericano porque o governo alemão não liberava atestado de bons antecedentes a desertores.
Eu, crescendo na sombra da Guerra do Vietnã, e com o exemplo de um tio que migrou para o Canadá para evitar servir no exército estadunidense, sempre entendi tal foto como lição. O rosto invocado de meu ancestral enquanto fitava a câmera lembra muito o de meu pai e o meu também (pelo menos quando olho no espelho de manhã). Parecia estar me dizendo “Ô! Vai tomar no c* se você acha que vou morrer como bucha de canhão numa guerra imperialista estúpida! Eu hein!”.
Pleiteei a cidadania brasileira em 2005, mais ou menos na época em que defendi minha tese de doutorado no Museu Nacional, o tema central foi o Destino Manifesto e como isso impactava as vidas dos povos indígenas da América do Norte. E quando eu reunia os documentos para o processo, temia que caísse numa situação semelhante à do meu tataravô. Afinal das contas, tinha 13 detenções em minha ficha policial por atividades políticas, desde a ocupação do capitólio do Estado de Wisconsin nas manifestações contra o apartheid em 1986, até a “conspiração para sabotar uma instalação estratégica” por bloquear uma estrada de acesso à fábrica de gatilhos nucleares de Rocky Flats, em 1988. Tive que pedir um atestado de bons antecedentes ao FBI. Como seriam interpretados os efeitos colaterais de minha antiga militância pelo Estado brasileiro? Será que eu seria que nem meu ancestral, fadado eternamente a ser um residente sem pátria?
Felizmente — e após um longo e tortuoso processo — consegui minha cidadania brasileira. Aconteceu que nem o FBI, nem a Polícia Federal, estavam muito preocupados, naqueles tempos, com minhas atividades políticas de quase 30 anos atrás.
Hoje, não sei se o resultado seria o mesmo.
Pouco antes de meu aniversário, eu e minha parceira, Dra. Ana Paula da Silva, visitamos os EUA em função do casamento de meu primo. Entramos cheios de ansiedade, esperando ser parados a qualquer momento. Embora ainda seja cidadão EUAmericano, vários daqueles antigos “delitos” nunca foram resolvidos no tribunal. Em teoria, ainda estão em aberto. E, mesmo se não fossem causa suficiente para me prender, certamente poderiam ser usados para bloquear a entrada de minha parceira — parceira, aliás, que também tem sua própria história de militância política e resistência aqui no Brasil e, portanto, poderia estar em várias listas do regime de Trump.
Senti que estava cruzando a fronteira de um país ativamente hostil, plenamente inimigo. Como todos que leem nossa produção acadêmica sabem, Ana e eu temos uma longa história de sermos assediados nas fronteiras, simplesmente por sermos um casal birracial e binacional. Mas essa foi a primeira vez que a gente poderia sentir o Estado ativamente nos buscando – não só vigiando, mas nos procurando especificamente e com malice aforethought.
No dia, nada aconteceu. Ironicamente, foi a fronteira mais tranquila que passamos na última década.
Mas, uma semana mais tarde, após um lindo casamento em que quase toda a extensa família da minha mãe estava presente, fomos embora com a certeza — não a dúvida, mas a certeza — de que era provavelmente a última vez que iríamos ver aquelas pessoas. Ana já não pretende renovar seu visto. Fora uma morte na minha família, me recuso a pôr o pé em um país que tenciona tratar minha parceira como inimiga e eu como traidor.
Agora, pela primeira vez em minha vida, me sinto completamente separado de meu país de nascimento. Nunca concordava muito com seus dirigentes e sempre me sentia às margens de suas culturas, senão em desafio aberto a seus princípios mais fundamentais. Há décadas já não me sinto EUAmericano, no sentido em que me sinto um estranho, se não um estrangeiro, quando ponho os pés no solo daquele país. Mas sempre me situava, pelo menos em parte, dentro de um referencial cultural-social-político: eu era descendente de uma tradição operária socialista autóctone, lutadora. Contracultura, talvez, mas cultura, mesmo assim. Mas agora, aquela tradição está sendo esmagada de forma fulminante, de tal maneira que até a sua memória — pouco divulgada fora de círculos restritos nos melhores momentos — está sendo apagada, mesmo das mentes de nossos aliados.
Pode ser autoindulgente ficar deprimido sobre essa situação, com um genocídio acontecendo em plena luz do dia na Palestina e a Amazônia em chamas. Afinal de contas, como meu antepassado, eu consegui sair antes da hora da conta chegar na mesa. Diferente dele, até encontrei outra pátria: um quilombo para fincar os pés. Estou seguro. Minha família passa bem. Pelo menos, por enquanto. Afinal, chorar por quê?
Mas como a Alemanha caminhou lentamente, mas certamente à ruína nas décadas após a saída de meu tataravô, vislumbro futuro semelhante para os Estados Unidos: uns anos, talvez até algumas décadas, de “glória imperial”, seguidos por uma hecatombe. E rezo todas as noites que eles não nos arranquem para baixo quando, inevitavelmente, tropeçarem e caírem.
Em nossa última noite nos Estados Unidos, Ana e eu passamos à beira do Rio Chicago. As brisas do Lago Michigan, que conheço tão bem de minha infância, sopravam entre as frestas de concreto e aço da cidade. Barcos iluminados subiam e desciam o rio, cheios de música e celebrações. Ancorado à nossa esquerda, havia um iate enorme de um multimilionário que estava fazendo um churrasco com seus amigos, todos afro-americanos, membros de uma elite econômica negra que quase não existe no Brasil. Sentados ao nosso lado direito havia dois rapazes, um moreno e outro branco, ambos na casa de 25 anos. A gente os escutava enquanto o cheiro de hambúrgueres e bratwurst grelhados flutuava pelo ar.
— Bom, é isso aí. — falava o rapaz branco. — Mesmo se conseguirmos reverter nas próximas eleições, nunca vai ter como consertar todos os danos que ele está fazendo.
— Se é que têm eleições. — retrucou o moreno. — Agora que eles têm o poder no executivo, judiciário e congresso, nunca mais vão largar. Ele vai começar uma guerra, declarar estado de sítio, algo assim.
— E mesmo se não for isto, vão reorganizar os distritos eleitorais de tal forma que nunca perderão outra eleição.
— Pois é, acabou. — concordou o moreno. — Agora é a hora de pensar onde vamos? A Europa é quase tão fodida quanto aqui. O Canadá não vai aguentar. Talvez o Brasil…?
Não me contendo, me intrometi:
— Desculpe, gente, mas estou ouvindo sua conversa. A gente é do Brasil e, olha, as coisas não andam bem por lá também. De fato, estarei surpreso se a gente não acabar com uma ditadura militar nos próximos anos.
Começamos a conversar, mas chegou um par de guardas informando que o parque estava fechando e que tínhamos que ir embora imediatamente.
Na volta para nosso hotel, Ana Paula me deu um soco no braço:
— Por que você falou aquela merda para os rapazes?
— Que merda?
— Que o Brasil vai mal, que vamos ter uma ditadura…
— Você não acha? Pô, é só isto que ouço de você e todos nossos amigos e colegas nos últimos anos. A democracia está fraca no Brasil. O congresso é fascista. A elite quer vender o país a quem quiser. Tipo, acho um romantismo absurdo dois jovens americanos pensarem que o Brasil oferece alguma solução para a crise global da democracia. Onde, na história brasileira, você vê alguma possibilidade disto?
Ana parou no meio da calçada, colocou suas mãos na cintura e me fitou, invocada. Por cima de nossas cabeças, um trem do El rolava trovejante rumo ao seu destino na Zona Sul da cidade.
— Olha, Taddheus, tá certo. Brasil muitas vezes pode ser uma merda. Tá certo. A gente tem uma longa história de autoritarismo. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas agora, neste exato momento, somos o único país do mundo que está peitando Trump. E o Brasil não é mais o Brasil de Casa Grande e Senzala. Nem é mais o Brasil da nossa juventude. Para bem ou para mal, agora é um país urbano, com mais gente educada do que nunca. Temos uma cidadania agora, mesmo que seja besta às vezes. Tudo isto é novo. A esperança é frágil, sim, mas você estava falando merda e sendo cínico a troco de nada quando você falou aquilo para os rapazes. Você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. A única coisa que sabemos é que, por enquanto, o Brasil está lutando. Seu dever como cidadão é apoiar aquela luta, não importando o pessimismo. Focar no aqui e agora, não no que pode estar por vir.
Voltamos a caminhar rumo a nosso hotel. Ela está certa, pensava. Afinal, eu estava aqui para ver o fim da ditadura. Testemunhei a reconstrução da democracia brasileira nos anos 1980. Sei, de primeira mão, o que os brasileiros podem fazer quando são motivados e invocados.
Uma piada velha, dos tempos da ditadura, que brasileiros da minha geração gostam de contar é que “Brasil é o país do futuro… e sempre será!” O senso de humor nacional, ligeiramente autodepreciativo, sempre foi uma das coisas que mais me atraiu a esse país, ficando em pleno contraste com o narcisismo patriótico frequentemente praticado nos Estados Unidos. Afinal de contas, um pouco de viralatismo faz bem. Inocula contra ilusões de grandeza.
Minha própria versão da velha piada tem a ver com nossa tendência nacional de fazer o impossível, sem pensar nas consequências ou passos seguintes. Costumo dizer a estrangeiros que, se fosse necessário, o Brasil poderia colocar um homem na lua dentro de seis meses. Sem dúvida alguma. Agora, devolvê-lo à terra…
Sem intenção nossa, estamos na mira de um império decadente, liderado por um charlatão com pretensões ditatoriais, o apoio de legiões de fanáticos, e o maior arsenal do planeta. Sem intenção nossa, parece que somos uma das únicas grandes nações do planeta que decidiu dizer, em alto e bom tom, que o Imperador está nu. Bêbados e equilibristas, precisamos, mais uma vez, fazer o altamente improvável.
Bora botar esse foguete na lua.
Texto: Thaddeus Blanchette
Arte: Fabrício Vinhas
Revisão: Juliana Carvalho
Montagem da Página: Alice Palmeira
Direção: Marcos Colón

 Thaddeus Blanchette
Thaddeus Blanchette


