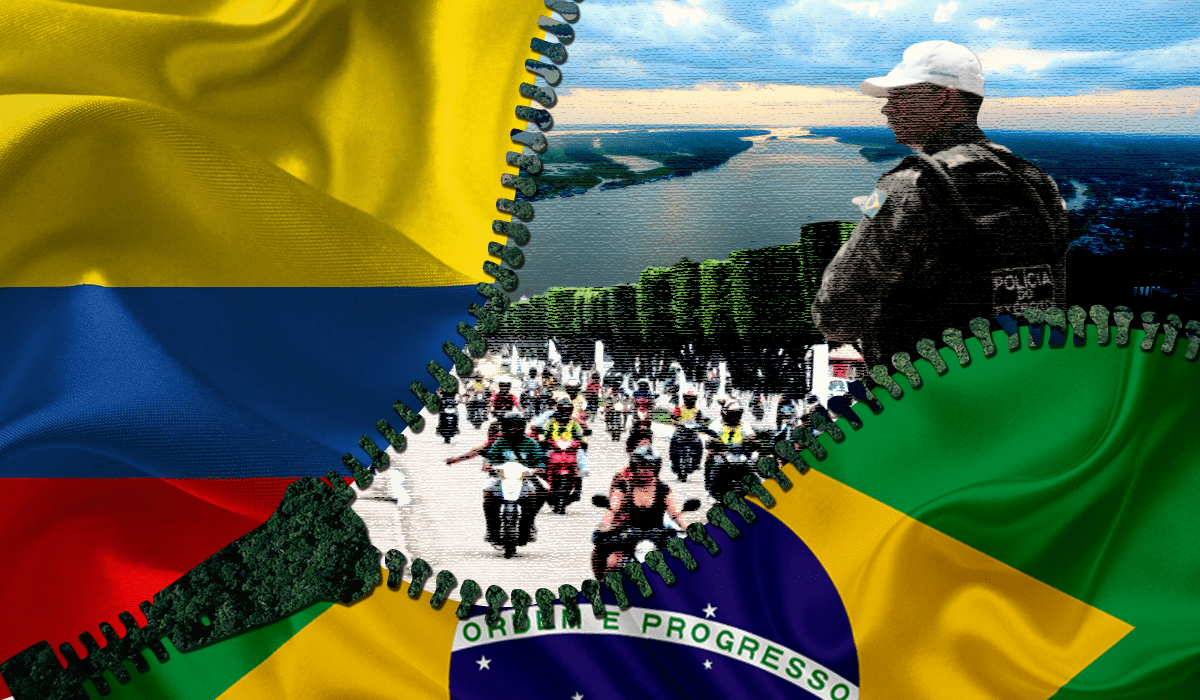Lobato e Rangel: o parasitismo social na literatura brasileira
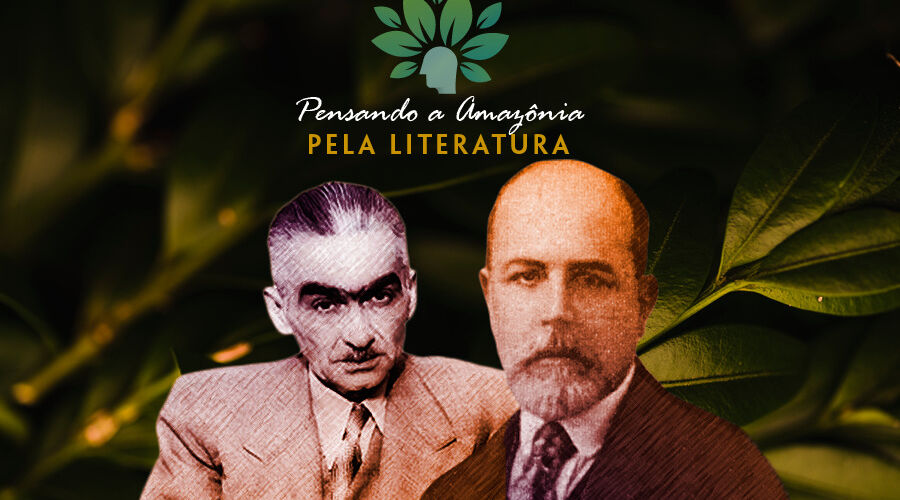

[RESUMO]: Este artigo mergulha no fascinante mundo do parasitismo social retratado na literatura brasileira, colocando sob os holofotes os escritores Rangel e Lobato. O autor desvela como os escritores usaram a metáfora vegetal para criar personagens que simbolizam a exploração e a ascensão social à custa de outros, refletindo as dinâmicas socioculturais de sua época.
A temática do parasitismo social, considerando-se esse fenômeno como a exploração de um ou mais indivíduos por outro, é uma constante no período naturalista e em vários autores que vieram imediatamente depois. O surgimento dessa temática tem a ver com os postulados do Naturalismo como estilo literário, haja vista a percepção científica que o enforma.
Um parasita no reino vegetal é uma planta que nasce no tronco e nos ramos de outra, sugando-lhe a seiva para viver e vivendo até, paradoxalmente, matar a árvore hospedeira. Essa planta, que se desenvolve como um câncer, é também conhecida popularmente pelos nomes de “apuí” ou “vassoura de bruxa”.
A partir desse fenômeno botânico, autores do final do século XIX e início do século XX fizeram a transposição, como era de se esperar, para a sociedade. É o caso de O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, em que o parasita é João Romão, que explorava os moradores da habitação coletiva que criara. Graças ao trabalho de toda uma coletividade, ele consegue ascender socialmente. No entanto, uma diferença fundamental se estabelece, para tornar o parasita social mais perverso que o seu símile vegetal: ele não morre, mas torna-se cada vez mais potente.
Porém, não é só no reino vegetal que se verifica essa questão. Entre as aves, é exemplo de exploração o pássaro chupim, que coloca os ovos em ninhos de outras espécies, a fim de que seus filhotes sejam criados por elas. A vítima mais constante dos chupins são os tico-ticos, devido à aparência semelhante dos ovos. Esse fenômeno bastante curioso integrou-se à cultura popular, não sendo raro o homem que cria filho de outro ser chamado de “chupim”. Aliás, dentre os diversos nomes que possui essa ave, cujo nome científico é Molothrus bonariensis, estão os de “parasito”, “parasita” e “engana-tico”.
No capítulo XII do Macunaíma (1928), Mário de Andrade trabalha com essa “aberração”, sem, contudo, alegorizá-la. Se o parasitismo pode ser inferido como uma alegoria em O Cortiço, tal recepção não se torna evidente nas aventuras do “herói sem nenhum caráter”. Veja-se um trecho significativo do episódio, com a conclusão que fez Mário, qual seja, a de que seu anti-herói mate o tico-tico porque ele se deixa explorar:
O tico-tico era pequetitinho e o chupim era macota. O tico-tiquinho ia dum lado pra outro acompanhado sempre do chupinzão chorando pro outro dar de comer pra ele. Fazia raiva. O tico-tiquinho imaginava que o chupinzão era filhote dele mas não era não. Então voava, arranjava um decumê por aí que botava no bico do chupinzão. Chupinzão engolia e pegava na manha outra vez: “Ihihih! mamãe… telo decumê!… telo decumê!…” lá na língua dele. O tico-tiquinho ficava azaranzado porque estava padecendo fome e aquele nhenhenhén-nhenhenhén azucrinando ele, atrás, diz-que “Telo decumê!… telo decumê!…” não podia com o amor sofrendo. Largava de si, voava buscar um bichinho uma quirerinha, todos esses decumês, botava no bico do chupinzão, chupinzão engolia e principiava atrás do tico-tiquinho outra vez. Macunaíma estava meditando na injustiça dos homens e teve um amargor imenso da injustiça do chupinzão. Era porque Macunaíma sabia que de primeiro os passarinhos foram gente feito nós… Então o herói pegou num porrete e matou o tico-tiquinho.[1]
Dentre vários escritores que trabalharam implícita ou explicitamente com o tema, nós nos deteremos num escritor de vivência amazônica, Alberto Rangel (1871-1945), com um conto de seu livro Inferno verde (1908); depois, o enfoque será sobre contos diversos de Monteiro Lobato (1882-1948).
LATIFÚNDIO: UM CHUPIM NA AMAZÔNIA
Tradicionalmente, as narrativas sobre a Amazônia, em face da grandiosidade do meio e da paisagem deslumbrante, tendem a privilegiar o espaço, em detrimento das outras categorias da ficção, como, por exemplo, as personagens, que, se bem exploradas, propiciam uma visão adequada dos seres humanos. O que se lê no Inferno verde, de Alberto Rangel[2], cuja primeira edição data de 1908, não é diferente; porém, a técnica utilizada para revelar o mundo amazônico distingue esse escritor de outros que tentaram o mesmo desafio.
Salientemos, de imediato, a estrutura do livro, que compreende os artifícios utilizados para dar ao conjunto de relatos aparentemente desconexos uma unidade. Esse é o primeiro grande mérito da obra: ela é formada de onze contos que podem ser lidos também como um romance de onze capítulos. Técnica moderna, sem dúvida – e das mais apuradas. A “mágica” capaz de propiciar tal estrutura dúplice é a de um narrador viajante onisciente e onipresente. Jamais nos diz o nome e parece ser vários, mas com ele percorrermos o que, em sua época, era desconhecido: o vasto Amazonas.
Logo no relato inicial, caminhamos do rio para o lago da Frente e, em seguida, para outro lago: o Tapará. Sabemos que adentramos a mata, pois há marcações indicadoras do percurso: “É longo o trajeto. Apenas dois quilômetros e meio, mas parece que não tem fim. O hábito da canoa, naturalmente, a exigência da translação com os pés, dá cansaços e paciências irreprimíveis”.[3] E assim em muitas outras situações, tal como em “A teima da vida”, quando nos revela o nome de sua “montaria”: “Era lá que eu devia ir ter, a chamado do Cambito, para contratar um serviço. Mais próximo se desenhou nítida a manchazinha clara da praia, onde fiz encostar a ‘Viola’.”[4]
Estranho é esse narrador que diz o nome de seu transporte e o de seu auxiliar – Manoel –, mas nunca o seu próprio. Acompanhando-o, viajamos pelas matas, pelos seringais e pelo centro urbano de Manaus, num ir e vir incessante. É ele, contudo, quem unifica os episódios narrados. Pode-se ler qualquer conto independentemente da ordem em que aparece no conjunto. E, evidentemente, pode-se lê-lo na sequência que o livro nos oferece. Aliás, essa última opção parece ser a mais conveniente, pois só com ela podemos entender o livro de Rangel como um romance. Dessa forma, com a primeira narrativa (“O Tapará”), que na verdade não se caracteriza como conto, por não ter conflito significativo, adentramos a mata, como se estivéssemos começando uma saga geográfica e literária.
Depois de intensos deslocamentos, a última (“Inferno verde”) nos mostra o destino de Souto, o engenheiro que sucumbe a uma febre. Nessa história, um pouco antes de terminá-la, compreendemos que se trata de uma alegoria: o homem não poderá vencer o organismo vivo e monstruoso que é a hileia amazônica. O narrador, explícito além do necessário, confirma o entendimento que o leitor certamente terá e revela inabilmente suas chaves, no momento em que a própria Amazônia se pronuncia:
Fui um paraíso. Para a raça íncola nenhuma pátria melhor, mais farta e benfazeja. (…) Ainda hoje, o caboclo, sobra viril e desvalida dos destroços da invasão, vive renunciado e silencioso, adorando-me e bendizendo (…). Inferno é o Amazonas… inferno verde do explorador moderno, vândalo inquieto, com a imagem amada das terras donde veio carinhosamente resguardada na alma ansiada de paixão por dominar a terra virgem que barbaramente violenta. Eu resisto à violência dos estupradores…[5]
Não se constitui em mera prosopopeia, artifício literário, o discurso proferido pela região. Na verdade, a Amazônia, sendo o espaço em que ocorrem as histórias, é também a protagonista (ou antagonista, dependendo do ponto de vista). Tal fenômeno é característico da ficção que privilegia o espaço, haja vista O Cortiço, de Aluísio Azevedo, e O Quinze, de Rachel de Queiroz.
Ainda no mesmo discurso, a Amazônia revela sua estratégia de desenvolvimento:
Mas enfim, o inferno verde, se é a geena de torturas, é a mansão de uma esperança: sou a terra prometida às raças superiores, tonificadoras, vigorosas, dotadas de firmeza, inteligência e providas de dinheiro; e que, um dia, virão assentar no meu seio a definitiva obra de civilização, que os primeiros imigrados, humildes e pobres pionniere do presente, esboçam confusamente entre blasfêmias e ranger de dentes.[6]
Estamos diante de uma contradição – isso para minimizarmos o problema. Se a Amazônia resistia à violência dos estupradores, como, então, se entregaria a representantes de outros povos? Mais grave ainda, ela afirma que é a Canaã das “raças superiores”. Aos caboclos nativos apenas hospedava; no entanto, toda a opulência de “celeiro do mundo” reservava a seres especiais. Tal pensamento se reforça com a afirmativa de João Catolé, um cearense que viera para o Amazonas, expulso pela seca. No conto “Um conceito do Catolé”, o alquebrado e velho personagem dá o seu parecer sobre a região e a raça que a habita: “– Ora, a terra! A terra é boa, o homem só é que não presta”.[7]
Claro que tal opinião é a de um personagem, que poderia não estar em consonância com a do narrador (e também com a do autor empírico). Mas não é o que ocorre, pois o narraedor faz questão de se pronunciar a respeito, concordando na totalidade com esse parecer. Enfático, termina o conto explicando-se: “A História, que fará o processo do Amazonas, como o do resto do mundo, pode reter em epígrafe esse conceito sintético do infortunado Catolé”. Lamentável que a avançada estrutura que abriga as narrativas do Inferno verde conviva com ideologias nada exemplares.
O que não se deveria esperar desse narrador, na “viagem” em que nos conduz pelas trilhas da Amazônia, seriam imperícias expositivas. Isso, infelizmente, ocorre. Vemos uma delas em “Obstinação”, conto (ou capítulo) que trata do absurdo conflito de terras numa região imensa e despovoada e na qual nosso guia toma o partido do economicamente mais fraco. O conflito se dá entre Gabriel, um caboclo que possui um pedaço de terra, e o “coronel” Roberto, que resolveu se apossar do patrimônio do outro. Como é poderoso, conseguirá inevitavelmente obter sucesso.
Para ilustrar a inglória luta do caboclo, o narrador faz uso de uma alegoria: a descrição de um abieiro que, pouco a pouco, fora sendo sufocado por uma planta parasita. Assim ele se expressa: “Da sapotácea restava afinal bem pouco, porque o apuizeiro constringia e sugava a árvore, tragando-a num enlace demorado, mas tenaz e absorvente”.
]Prossegue considerando a luta entre os dois vegetais por mais duas páginas. Intuímos, porque a história se encontra parada, que essa luta e a de Gabriel contra o “proprietário” da terra mantêm um vínculo de significação. Por isso, não se fazia necessário revelar o propósito da inserção do episódio. Mas é o que, para desagrado do leitor, acontece: “Representava, na verdade, esse duelo vegetal, espetáculo perfeitamente humano. Roberto, o potentado, era um apuizeiro social…”[8] Esse é o ponto crucial para o qual queremos chamar a atenção: a questão do parasitismo.
Felizmente, há compensações, já que abundam os momentos líricos, cuja finalidade na narrativa é a de contrapor o “apuí Roberto” com o edenismo[9] da natureza. Afinal, estamos viajando na companhia de um deslumbrado pela Amazônia, alguém que se emociona com o espetáculo da floresta. Mal começamos a jornada e já no primeiro parágrafo, ao olhar a mata do outro lado do rio, assim o narrador se pronuncia, embevecido: “O torçal, oiranas ralas e tristes como cílios à borda de pupila imensa que fosse dilatada e cega”.[10] E, logo em seguida:
O sol aproveita a escápula de rama, ou recuo de galho, para escorrer nos interstícios da massa de verdete a sua luz ardente, que atravessa, ora em fiapos, ora em punhais. Os punhais embebem-se nos troncos e os fiapos são plumilhas de cotão de ouro voltívolo e tenuíssimo, fazendo das folhas joias em berloques de esmalte. Há trechos onde se diria que se acendem candelabros para uma festa de duendes.[11]
É impossível não o comparamos, em tais instantes, com Euclides da Cunha (1866-1909). E se o autor de Os Sertões se coloca como inevitável parceiro quanto ao uso cientificista da língua, o mesmo ocorre, em termos líricos, com Raul Bopp (1898-1984), que poetizou a Amazônia em Cobra Norato, obra de 1931. Numa linguagem repleta de prosopopeias, podemos ler, nessa saga poética, trechos como os seguintes:
Agora são os rios afogados
bebendo o caminho
Riozinho vai para escola
Está estudando geografia
Árvores acocoradas
Lavam galhos despenteados na correnteza[12]
Com as mesmas concepções anímicas, escritas, no entanto, em estilo que tende ao cientificismo, nosso guia turístico no “inferno verde”, na perspectiva de um rio, nos informa sobre uma cheia amazônica: “Algumas vezes há de parar na marcha. Faltar-lhe-á o fôlego ou preparar-se-á, numa concentração de forças, para a expansão monstruosa da enchente” (“Obstinação”).[13]
Como nos versos de Cobra Norato acima transcritos, também os vegetais e rios têm atitudes humanas. É o que se observa ainda na mesma narrativa: “Com os troncos derivam os camalotes de canaranas e aguapés, ilhas verdes viajando, depois de raspadas das bainhas das margens pelo curvo e constante gládio da torrente”.[14]
Consideremos a importância dessa antecipação histórica e literária, posto o livro de Rangel preceder o de Bopp em 23 anos. Não é demais, portanto, ressaltarmos a sensibilidade lírica do narrador-protagonista. Aliás, os momentos poéticos e os científicos formam uma composição bastante perturbadora e, muitas vezes, nada tranquila; por isso, expressa o discurso uma inconfortável dualidade. Antes, porém, de condenarmos a indefinição estilística entre Ciência e Poesia, pensemos que, com ela, alcança-se um resultado contraditório em perfeito acordo com a psicologia do narrador e da própria região amazônica. Afirma-se, também no nível linguístico, a antítese, essa salutar figura, imprópria talvez para o ensaio, mas vigorosa para a literatura.
LOBATO E OS CHUPINS
A representação idílica do campo, tão comum no Romantismo brasileiro, principalmente na corrente denominada sertanismo, foi desconstruída por Monteiro Lobato[15] em contos como “A vingança do Peroba” e “Bucólica”. Afinal, em Urupês (1928), primeiro livro de narrativas curtas do autor de Taubaté, os signos da decadência do mundo rural paulista são o leitmotiv da obra.
Refletindo a realidade de São Paulo, a gente do campo é ignorante, humilde e desinformada; já a conjuntura social é hostil e preconceituosa – o que explica as deficiências existenciais e culturais do povo. Por tais motivos, apesar de o livro de estreia de Lobato no gênero conto ter sido publicado há mais de cem anos, ele permanece atual em seus questionamentos, em suas denúncias. Outro aspecto modernizante da obra são os recursos metaficcionais e paródicos associados.
Como se vê, o campo não tem a aparência do locus amoenus que tivera durante o período do Arcadismo e em boa parte do Romantismo, hajam vista as vertentes indianistas e sertanistas. O campo, na verdade, é uma utopia, como se depreende do que diz o teórico Raymond Williams em O Campo e a cidade. Ao contrapor o meio urbano ao rural, ele assevera:
Essa vida fervilhante, de lisonja e suborno, de sedução organizada, de barulho e tráfego, com ruas perigosas por causa dos ladrões, com casas frágeis e amontoadas, sempre ameaçadas de incêndio, é a cidade como algo autônomo, seguindo seu próprio caminho. Assim, refugiar-se desse inferno no campo ou na costa já é uma visão diferente do simples contraste entre a vida rural e a urbana. Trata-se, naturalmente, de uma visão de rantier:[16] o campo fresco no qual o poeta se refugia não é do agricultor, e sim o do morador desocupado. As virtudes rurais permanecem apenas como lembrança.[17]
Ao retratar um meio rural em tudo oposto ao que o senso comum e histórico-literário projetavam, Lobato desmitifica a condição de felicidade plena em meio à natureza. No campo revelado em Urupês e em livros posteriores, existe a presença de seres humanos massacrados por condições sociais adversas – criaturas a quem o verniz da cultura não fora capaz de sensibilizar e de tirá-las do embrutecimento.
O MATA-PAUTA
O confronto entre as duas vertentes formadoras da cultura brasileira, quais sejam, a urbana e escrita versus a regionalista e oral, foi admiravelmente bem retratada no conto “O mata-pau”, um dos textos em que o parasitismo social é abordado. Nessa narrativa, vemos dois personagens: um homem da cidade que passeia pelo campo e seu guia, um caboclo.
O citadino, em determinado ponto do percurso, se assusta com o tamanho de um mata-pau (que é uma parasita que, enroscando-se a outras árvores, as faz secar). A partir desse mote o caboclo lhe conta uma história ilustrativa do fenômeno botânico.
Observe-se, antes de fazermos um indispensável resumo do enredo, a presença de uma estrutura bastante usual nos contos de Lobato: uma narrativa preliminar, sem maior interesse e, a partir dessa, a história conflituosa, a de real proeminência, relatada por um dos personagens. Os contos lobatianos com essa configuração começam com uma conversa entre dois amigos (ou duplos).
No enredo, vemos um casal, formado por Elesbão e Rosa, que não tinha filhos. Uma noite, porém, apareceu no terreiro de sua casa uma criança, imediatamente adotada pelos cônjuges. Foi apelidado de Ruço e, segundo o caboclo narrador, aos dezoito anos já era “ruim inteirado”. Suas relações com a mãe adotiva, até então apenas maternais, descambaram para o namoro. Mais que isso, Elesbão apareceu morto ao lado de um mata-pau. Torna-se, evidente, a essa altura, a simbologia da planta parasita: Ruço é a sua personificação, pois mata a quem o abrigara: Elesbão, um espécime sertanejo de Laio, da imortal tragédia de Sófocles.
Por insistência de Ruço/Édipo, Rosa vendeu a propriedade para ir embora com o filho/amante para o Oeste paulista, na época uma “terra da promissão”. Uma noite, porém, ela acorda sufocada com o fogo que se alastrava e destruía a casa. Como resultado, além das queimaduras, Rosa enlouqueceu e o “mata-pau”, o Ruço, fugiu com o dinheiro da venda.
O personagem Ruço representa, numa segunda camada de significação, as ideias e os valores estrangeiros que então chegavam ao país. Ideias e valores que se foram fortalecendo, ganharam estabilidade e acabaram por suplantar a cultura original. Essa morte cultural (a que talvez pudéssemos chamar de aculturação) equivale, alegoricamente, à loucura de Rosa e ainda à perda da identidade.
A onomástica de Ruço, por sua estrutura fônica, expressa o estrangeirismo, o “russo”. Mas não há qualquer anticomunismo por parte de Lobato, já que o conto foi escrito em 1915, dois anos antes, portanto, da Revolução bolchevique. Esclareçamos ainda que o nome de batismo de Ruço era Manoel Aparecido, o que nos leva a outras especulações sobre os recados que contém o seu nome.
O nome Manoel vem de Emanuel, que significa “Deus conosco”. Esse termo, ligado a Aparecido, sugere que as ideias estrangeiras são bem-vindas no Brasil. Isso indica a perplexidade de Lobato diante da encruzilhada posta a sua frente. Adepto do fordismo americano, graças aos ideais de progresso de tal doutrina, contraditoriamente expressa rejeição a valores não brasileiros em “O Mata-pau”.
Ainda sobre o conto como uma recriação do mito de Édipo, podemos ver nele a interpretação feita por Michel Foucault, por quem o herói tebano foi “utilizado na discussão em torno de uma forma específica da verdade. Édipo aparece, então, equacionado à questão da ‘verdade’.”[18] Em Lobato, a discussão sobre “verdade”, “saber” e “poder” aparece de modo subjacente: por não “saber” a “verdade” sobre o Brasil, um país miserável e doente, seu povo perde o “poder” sobre o governo da própria nação.
Em relação ao “original” de Sófocles, vemos significativas mudanças típicas da intertextualidade que se configura como paródia. No tragediógrafo grego, Édipo, ao saber a verdade, arranca os próprios olhos, enquanto Manoel Aparecido, depois da tentativa de assassinato da mãe, foge com o dinheiro para terra distante. De acordo, pois, com as “regras” da paródia, a seriedade trágica do rei tebano transforma-se na irresponsabilidade malévola do anti-herói caipira, numa demonstração de irreverência diante de comportamentos e convenções estereotipadas, marcadas pela tradição.
Outro aspecto relevante do conto “O Mata-pau” reside na representação da linguagem oral dos caboclos, que se manifesta em diversos trechos. Ao mostrar ao viajante um exemplar pequeno do mata-pau, junto a um cedro, o caboclo explica, em linguagem oral, como a planta se desenvolve.
– Aquele fiapinho de planta ali, no gancho daquele cedro – continuou o cicerone, apontando com dedo e beiço uma parasita mesquinha grudada na forquilha de um galho, com dois filamentos escorridos para o solo. – Começa assinzinho, meia dúzia de folhas piquiras; bota pra baixo esse fio de barbante na tenção de pegar a terra. E vai tudo, sempre naquilo, nem pra mais nem pra menos, até que o fio alcança o chão. E vai então o fio vira raiz e pega a beber a sustância da terra. A parasita cria fôlego e cresce que nem imbaúba. O barbantinho engrossa todo dia, passa a cordel, passa a corda, passa a pau de caibro e acaba virando tronco de árvore e matando a mãe – como este guampudo aqui – concluiu, dando com o cabo do relho no meu mata-pau.[19]
A descrição em linguagem popular do caipira contrasta sobremaneira com o cientificismo de Alberto Rangel em “Obstinação”, como se pode verificar:
O apuizeiro é um polvo vegetal. Enrola-se ao indivíduo sacrificado, estendendo sobre ele milhares de tentáculos. O polvo de Gilliat[20] dispunha de oito braços e quatrocentas ventosas; os do apuizeiro não se enumeram. Cada célula microscópica, na estrutura de seu tecido, se amolda numa boca sedenta. E é a luta sem um murmúrio. Começa pela adaptação ao galho atado de um fio lenhoso, vindo não se sabe donde. Depois, esse filete intumesce e avolumado se põe, por sua vez, a proliferar em outros.[21]
Igualmente na voz de Rosa surge outro exemplo da linguagem rural paulista: “– Lesbão, des que morreu o pai, anda amode que ervado. Mas não é sentimento, não. Ele desconfia… Às vezes pega de olhar para mim dum jeito esquisito, que até me gea o coração”.[22]
A fala da “Jocasta caipira” traz marcas nítidas do falar regional, com expressões típicas como “pega de olhar” e “gea o coração”. Enunciados incompletos, com várias orações coordenadas, expressam o raciocínio de uma pessoa inculta.
Tal linguajar caipira antecipa as trilhas linguísticas propostas por João Guimarães Rosa, cerca de cinquenta anos depois. Na representação perfeita da fala oral reside um dos aspectos precursores da literatura cultivada por Lobato.
Para que não haja possibilidade de um leitor pouco afeito às interpretações não entender a alegoria do mata-pau, cuja significação tem a ver com Manoel Aparecido, ao final do conto vem a decifração do “enigma”, feita pelo ouvinte àquele que lhe contara os eventos:
– Aí parava a história de Elesbão, como a sabia o meu camarada. Um crime vulgar como os há na roça às dezenas, se a lembrança do mata-pau o não colorisse com tintas de símbolo.
– Não é só no mato que há mata-paus!… – murmurei eu filosoficamente, à guisa de comentário.
O capataz entreparou um momento, como quem não entende. Depois abriu na cara o ar de quem entendeu e gostou.
– Não é por gabar, mas vosmecê disse aí uma palavra que merece escrita. É tal e qual…
E calou-se, de olho parado, pensativo.[23]
A narrativa sobre o Ruço é mais uma peça da colcha de narrativas trágicas costurada por Monteiro Lobato sobre o interior paulista. É mais uma tragédia, como as “há na roça às dezenas”. O campo não é o idílio sonhado por tantos escritores; ele pode não ser a “visão do paraíso”, mas um inferno à Dante
O ROMANCE DO CHUPIN
A crítica à má literatura que grassava no País nas primeiras décadas do século XX tem expressão no conto “O Romance do chupim”, narrativa que, como o título indica, trata do parasitismo social. A imagem desse pássaro, criado por caprichos da natureza no ninho do tico-tico, é utilizada nesse texto como uma metáfora de homens que vivem às expensas da mulher.
Monteiro Lobato, neste caso, alegoriza o chupim de outra forma: a exploração é bem-vinda devido ao fato de o tico-tico (a esposa) possuir o poder de mando. Em consequência, é o marido quem fica em casa, enquanto a mulher trabalha, e faz todos os afazeres domésticos tradicionalmente dedicados às esposas. Nas primeiras décadas do século passado (e ainda hoje) tais papéis invertidos eram considerados uma aberração.
O enredo sobre as desventuras conjugais do protagonista é narrado por um amigo de escola de Eduardo Tavares, o “chupim”. Na história-moldura, o narrador e um amigo não denominado estão numa sessão de cinema. Antes do início da fita, entra um casal à procura de lugar. O narrador, então, revela as impressões que todos têm sobre o par:
O estranho do casal residia sobretudo nisso, no ar de cada um, senhorial do lado fraco, servil do lado forte. Inquilino e senhorio, quem manda e quem obedece; quem dá e quem recebe. Ela falava do alto; ele ouvia de baixo e mansinho; caso evidente em que cantava a galinha e o galo chocava os pintos.
Meu amigo apontou o homem com o beiço e murmurou:
– Um chupim.
– Chupim? – repeti interrogativamente, estranhando a palavra que ouvia pela primeira vez.
– Quer dizer, marido de professora.[24]
Depois de o filme chegar ao fim, o assunto voltou a ser tratado pelos amigos, oportunidade em que o narrador revela que Eduardo, o “chupim”, fora seu colega na escola. Colocando em termos atuais, pode-se dizer que o menino sofria bullying. Por decisões da vida, o narrador se tornou amigo de Eduardo: “Acamaradamo-nos daí em diante, o que não me impediu de o fazer armazém de pancadas.
Por qualquer coisinha, uma cacholeta. Ele ria-se, meigo, e cada vez mais me rentava. Pus-lhe o apelido de Maricota. Não se zangou, gostou até, confessando achar mais graça nesse nome do que no seu”.[25] Nessa camaradagem, na aceitação dos sofrimentos que o amigo causava, o narrador pode estar ocultando alguma coisa, talvez uma relação que enveredasse pela homossexualidade. Mas isso ele jamais revelaria ao amigo para quem contava a história, pois o assunto, por ser tabu, era bastante comprometedor.
Na idade adulta, depois da morte do pai, Eduardo foi enganado e perdeu a fortuna que o “velho” lhe deixara. Viu-se sem dinheiro, sem emprego, desamparado no mundo. A solução foi ter uma professora mais velha se engraçado dele. Casaram-se e Eduardo virou “chupim”.
Para amenizar os comentários maldosos de toda a cidade, Zenóbia (assim se chamava a mulher) inventou que o marido era um grande artista e que estava escrevendo um romance intitulado Núpcias fatais. Para as colegas da escola ela inventava capítulos de uma novela água-com-açúcar, cheia de lances inverossímeis e aventuras rocambolescas. Apesar disso, ou talvez por causa disso mesmo, a novela, elaborada diariamente, fez sucesso no meio colegial e em toda a cidade. Nesse fato, há uma crítica de Lobato à produção literária da época e à capacidade de recepção do público.
No conto, pode-se fazer uma restrição quanto à ideologia que perpassa o conteúdo, que é o machismo, haja vista a maneira como os homens dependentes das esposas são apresentados:
Eles desempenham o cargo importantíssimo de maridos. Em troca as esposas ganham-lhes a vida e dirigem os negócios do casal, desempenhando todos os papéis normalmente atribuídos aos machos. Tais mulheres apenas fazem aos maridos a concessão suprema de engravidarem por obra e graça deles, já que é impossível a revogação de certas leis naturais.
Quando a mulher vai à escola, fica o chupim em casa cocando os filhos, arrumando a sala ou mexendo a marmelada. Há sempre para eles uma recomendaçãozinha à hora da saída para a aula:
– As vidraças da frente estão muito feias. Você hoje, quando as Moreiras saírem, passe um pano com gesso. (As Moreiras são as vizinhas da frente.)[26]
A caracterização do protagonista vai além do que foi dito acima. Ela beira o deboche, como se pode observar:
[Eduardo] em criança brincava de boneca, de preferência às nossas touradas, ao jogo dos “caviúnas”, ao “pegador”. Em meninote, enquanto os da sua idade descadeiravam gatos pela rua, lia Paulo e Virgínia à sombra das mangueiras, chorando sentidas lágrimas nos lances lacrimogêneos.
Fomos colegas de escola, e lembro-me que um dia lá nos apareceu Eduardo com um papagaio de miçanga verde, obra sua. Eu, estouvado de marca, ri-me daquilo e escangalhei com a prenda, enquanto o maricas, abrindo uma bocarra de urutau, rompia num choro descompassado, como choram mulheres.[27]
A ideologia do machismo, própria dos regimes patriarcais, não deve ser imputada a Monteiro Lobato. Afinal, ele não é o narrador, mas sim um personagem criado por ele. Não necessariamente o personagem é o reflexo do autor empírico – caso assim fosse, todas as criaturas de um ficcionista seriam iguais. Ao colocar o machismo na boca de um narrador, Lobato revela a mentalidade que grassava na época no meio da sociedade. Acaba sendo, portanto, uma denúncia do problema.
O PARASITISMO EM NÍVEL MÍNIMO
Em “Os Pequeninos”, Lobato trata mais uma vez do parasitismo. Antes, porém, de considerarmos o conto, devemos observar que a estrutura dúplice de narrativa-moldura e narrativa emoldurada se repete, dessa vez, porém, com uma diferença, posto que os quadros narrativos dentro da moldura são dois.
Assim, temos dois contos em um só; entretanto, une-os o tema. Ao final, uma terceira história se esboça, mas não foi desenvolvida, o que de forma alguma prejudica o enredo; pelo contrário, realça-o ainda mais.
Como frequentemente acontece na ficção lobatiana, apresentam-se dois amigos que funcionam como duplos, estrutura comum na mitologia. Um deles está no cais do porto, esperando o navio Arlanza, onde vem o outro.
Como a nave vai atrasar uma hora, o amigo-narrador ouve, involuntariamente, a conversa de três carregadores portugueses. Dois deles, para passar o tempo, contam pitorescas histórias em que um animal pequeno, de certa forma na contramão do evolucionismo, leva vantagem sobre um maior. No primeiro “causo”, lê-se um episódio em que um quiriquiri, pequeno gavião, ataca uma ema, cravando-lhe no sovaco as garras e bicando-lhe as carnes tenras e macias.
O ataque foi feito no único ponto em que o bico da ema não alcança. A outra história é a de Manuel, que era o fiel de um armazém de estocagem. Certa feita, guardou 32 sacos de arroz; algum tempo depois, porém, na hora de tirar os sacos para entregar ao comprador, havia um a menos. Manuel foi demitido e passou a ser discriminado ao tentar empregar-se novamente.
Tempos depois, durante uma arrumação feita no armazém por outro empregado, descobriu-se o motivo do sumiço: foram formigas saúvas que carregaram os grãos de arroz. Mas ainda havia muito deles pelo chão… O narrador aprende, então, sobre a dolorosa competitividade e o inevitável parasitismo em todos os ramos da existência.
A terceira história, apenas debuxada, acontece quando o navio aporta e o amigo chega:
Nesse momento, o Arlanza apitou. O grupo dissolveu-se e também em fui colocar-me a postos. O amigo de Londres causou-me má impressão. Magro, corcovado.
– Que te aconteceu, Marinho?
– Estou com os pulmões afetados.
Hum!, sempre a mesma coisa – o pequenino a derrear o grande. Quiriquiri, saúva, bacilo de Koch…[28]
O parasitismo que ocorre no nível microscópico (os bacilos de Koch) repete o que globalmente acontece nas sociedades humanas. Em “O Fisco (conto de Natal)”, narrativa publicada pela primeira vez na Revista do Brasil, em 1918, sob o título de “O Imposto único”, e depois inserida no volume Negrinha (1920), Lobato mostra como o Estado pode exerce o papel de um apuí.
O protagonista dessa história é um menino chamado Pedrinho (o mesmo nome do neto de Dona Benta, do Sítio do Pica-pau Amarelo). Sua família há de ser de origem italiana, já que é morador do Brás, bairro ocupado por imigrantes da Itália. Esse conto possui uma dubiedade, sendo ao mesmo tempo crônica e conto. É crônica quando se detém a descrever a formação do Brás ou a narrar os passeios domingueiros de sua população ao centro de São Paulo. Em tais momentos, o personagem é coletivo, é todo um povaréu miserável que se deslumbra com o passeio de bonde, com as confeitarias e sorveterias.
O enredo se resume ao seguinte: percebendo a miséria da família, Pedrinho pensa em ajudá-la e confecciona uma tosca caixa de engraxate para trabalhar. Entretanto, antes mesmo de conseguir o primeiro freguês, foi abordado por um agente do fisco que lhe pede para ver sua licença. Junta-se gente, forma-se um pequeno tumulto contra o “infrator”.
O policial o conduz até sua casa e extorque dos pais a quantia de dezoito mil-réis. Corrupto, o dinheiro não vai para a municipalidade, mas para seu próprio bolso. O término da narrativa informa que o fiscal vai até o bar para beber cerveja com o valor surrupiado; “enquanto isso, no fundo do quintal, o pai batia furiosamente no menino”.[29]
Pedrinho é, portanto, uma criança sem infância, devido às desigualdades sociais. Tal e qual a Negrinha, do conto homônimo, que nem nome tinha. Filha de mãe escrava, nascera na senzala, antes do 13 de maio de 1888. Mais que o protagonista de “O Fisco”, que apanha uma surra por ter prejudicado as parcas finanças da família, Negrinha era objeto de maus tratos cotidianamente.
Além do subtítulo irônico – “Conto de Natal” –, também as metáforas são invertidas, numa técnica apropriada para levar o leitor a refletir. Dessa forma, o narrador faz sucessivas comparações entre o organismo humano e a vida na cidade: as ruas são as artérias; os passantes, o sangue.
Nessa ordem, o desordeiro, o bêbado, o ladrão e mesmo o engraxate Pedrinho, protagonista da história, são os micróbios maléficos perturbadores do ritmo circulatório. Quer a sociedade, por isso, eliminá-los.
Saliente-se, para finalizar, que o policial é um apuí, pois extorque o dinheiro dos pais do menino e também do próprio Estado, já que não repassou o valor ao erário público. Mesmo a municipalidade funciona como parasita, apropriando-se injustamente do produto do trabalho da população pobre.
O PARASITISMO EM FALSOS EMPRÉSTIMOS
Uma narrativa com pouca ação e muita psicologia é “A Facada imortal” (conto datado de 1942 e incluído em edições posteriores de Negrinha. O vocábulo “facada” já tinha, à época da escritura da história, o sentido conotativo de hoje, qual seja, o de “pedido de dinheiro feito por indivíduo vadio, avesso ao trabalho, que não tem a menor intenção de restituir a quantia emprestada”.[30]
O protagonista, que preenche as características delineadas no dicionário – “vadio, avesso ao trabalho” –, é Indalício Araragboia. Antes, segundo ele próprio revela, “perdia o tempo numa escola do Rio como professor de meninos. Nada mais desinteressante. Fugi, farto e refarto”.[31]
Após a fuga do colégio e da profissão, Indalício desenvolveu a extrema habilidade de viver folgadamente mediante o recurso de dar “facadas” nos outros. Pertencia a uma turma que se reunia todas as noites no Café Guarany. À roda pertencia também um indivíduo que todos consideravam inatingível pelo sangramento dos empréstimos:
O Raul, velho companheiro de roda, tinha-se, e era tido, como absolutamente imune a facadas. Rapaz de modestas posses, vivia duns quatrocentos mil-réis mensalmente drenados do Governo; mas tratava-se bem, vestia-se com singular apuro, usava lindas gravatas de seda, bons sapatos; para perpetuar semelhante proeza, entretanto, adquirira o hábito não pôr fora dinheiro nenhum, e hermeticamente fechara o corpo a facadas, por mínimas que fossem.
Recebido o ordenado no começo do mês, pagava as contas, as prestações, retinha os miúdos do bonde e pronto – ficava até o mês seguinte leve como um beija-flor. Em matéria de facadas sua teoria sempre fora a de negação absoluta.[32]
Fez-se então um desafio ao Indalício: ele deveria “sangrar” o Raul. O faquista, depois de algum tempo, conseguiu êxito, tornando-se esse feito a dita “facada imortal”. Constituem boa parte do enredo do conto os estudos preliminares feitos pelo desafiado sobre a personalidade de Raul, o seu limite de empréstimo, para enfim, entre a segunda e a terceira dose de vinho, conseguir tirar do inexpugnável Raul a quantia de cinquenta mil-réis. O valor era módico, mas o importante foi o resultado.
Considerado por muitos como uma de suas grandes produções, essa narrativa recebeu as seguintes palavras do crítico e romancista Silviano Santiago, no artigo “Um dínamo em movimento”, no qual se observa uma interessante revelação sobre sua gênese:
O conto “Facada Imortal” (sic), verdadeira obra-prima, foi escrito por motivos sentimentais. Teria sido mais correto escrever, em lugar do conto, as circunstâncias que o levaram a ser escrito.
Tendo como personagem principal o amigo Raul, “Facada Imortal” (sic) foi também escrito para ele. Quando o escritor se depara com o corpo do amigo tomado por doença terminal, quer amenizar suas dores. Como? Inventando um causo em que o próprio doente seria personagem. A leitura do conto acabou por servir, lê-se na nota do editor, “como a melhor injeção de morfina que lhe proporcionaram”. Contos ajudam os amigos a suportar as dores da morte, acreditava Lobato.[33]
Beatriz Rezende, na “Apresentação” feita para os Contos completos, afirma: “Nos contos mais recentes, acrescentados a volumes anteriores, junto com a linguagem que se moderniza, surge também um tom mais leve que não teme o cômico e se aproxima da crônica como em ‘A Facada Imortal’”.[34]
Monteiro Lobato tinha sobre o conto ideias muito semelhantes às de Edgar Allan Poe, já que, para ele, esse gênero tinha de ser calculado e trabalhado para se chegar a um fim pretendido.
Explícita ou implicitamente, suas percepções sobre a vida são postas na escrita e o leitor atento capta suas intenções. Nesse sentido, uma das leituras possível para “A Facada imortal” é a de que se trata de uma metáfora para o dom da persuasão, o dom da oralidade, tal como é exposto por Indalício logo no início do texto: “o homem que fala depressa é um perdulário que deita fora o melhor ouro da sua herança”.[35] E logo mais adiante, filosofando sobre sua atividade: “Assumi essa atitude (porque o pedir é uma atitude na vida), primeiro, por esporte; depois, com o fito de reabilitar uma das velhas profissões humanas”.[36]
O desenvolvimento do enredo, com pouca ação, o tom cínico do protagonista e a ausência de valores morais em função dos próprios interesses, lembra a ficção daquele que é considerado o maior escritor brasileiro: Machado de Assis.
OUTROS PARASITAS: UM BOM MARIDO E UM CEGO
A temática do parasita é recorrente na ficção de Monteiro Lobato e reaparece em sua última obra de contos – O Macaco que se fez homem – com duas narrativas que voltam a explorar o assunto. São elas: “O bom marido” e “O Rapto”.
Em “O bom marido”, o papel de parasita é desempenhado por Teofrasto Bermudes, casado com Dona Belinha. O parasitismo consiste no fato de que é a mulher quem trabalha como professora e como costureira, quem faz os serviços domésticos, quem cria os oito filhos (ela é mais explorada que a professora de “O Romance do Chupim”). Enquanto isso, o marido vive numa farmácia, em discussões inócuas sobre política. Ele se desculpa com o cônjuge, dizendo que, apesar de todo o seu esforço, não consegue emprego.
Inutilmente tentaram os pais abrir os olhos à moça.
– É um vagabundo, Belinha, sem eira nem beira, incapaz de ganhar a vida, malandro completo. Esteve na venda do Souza, mas foi posto no olha da rua por excesso de preguiça. Também esteve no cartório um mês e perdeu o lugar pelas mesmas razões. Além disso, é filho do Chico Manteiga, o maior parasitão que já vegetou por estes lados. Puxou ao pai…
– Falta de sorte – exclamou Belinha. – Téo ainda não se arrumou porque ainda não foi compreendido.[37]
O protagonista, cujo único objetivo era viver sem trabalhar, mantinha-se incólume no conceito da esposa mediante duas atitudes: era carinhoso e não mantinha relações sexuais com qualquer outra mulher. Isso o levava a ser gabado por Dona Isabel (Belinha), que era a inveja das amigas, as quais tinham maridos nada fiéis. Lobato trata o tema do parasitismo, como é de seu feitio, com sarcasmo. Quando a mulher insiste para que ele tire uma “carta de solicitador” e atue como rábula, ele habilmente sabe se desviar do obstáculo:
– É verdade. Está aí uma ideia que não me ocorreu ainda. Vou pensar nisso.
Teofrasto Pereira da Silva Bermudes pensou naquilo durante vários anos. Nesse intervalo vieram novos filhos, dois, três, quatro, cinco. Os encargos da família redobraram e dona Isabel teve que fazer prodígios para assegurar a subsistência do clã.
Pobre criatura! Perdera a mocidade. Seus vinte e seis anos pareciam quarenta. A beleza fora-se-lhe minada pela gravidez ininterrupta. Por fim, em consequência de certo aborto infeliz, entrou a perder a saúde. Era já com esforço que prosseguia na tarefa penosa, muito acima das suas forças.[38]
O resultado foi o esperado: o apuí matou a árvore hospedeira e não se incomodou nem um pouco quando os pais de Belinha levaram os rebentos, pois assim ele se livrava de responsabilidades. Ao ser expulso da casa pelos sogros que lhe disseram: “– Fora daqui, assassino! Vá procurar outra!…”, “Teofrasto humildemente obedeceu. Saiu, procurou outra e achou… Um mês mais tarde ligava-se a certa mulata doceira, cuja quitanda ia próspera”.[39]
Nas sociedades patriarcais, cabe ao homem ser o provedor de seu lar; em compensação, ele é o dono de sua mulher e de seus filhos, a quem todos devem obedecer. Confinado às paredes de sua casa, o cônjuge do sexo feminino normalmente não tem renda e sua contribuição à vida do casal é a da administração e a da labuta diária com trabalhos domésticos. No conto criado por Lobato, essa situação é radicalizada, pois Teofrasto não exerce nem mesmo o papel que dele se esperava: o de ser o provedor das necessidades da família.
À sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX pareceria estranho, para dizer o mínimo, a recusa do homem ao trabalho. Lobato pegou uma exceção, mas com ela mostrou o quanto a mulher tem sido explorada ao longo do tempo.
O outro “conto de chupim” presente no livro O Macaco que se fez homem é “O Rapto”. O enredo trata de um cego que espancava os filhos, os quais suportavam tudo porque viviam das esmolas que o pai obtinha. Temos, em tal caso, que Bento, o cego da cidadezinha de Rio Manso é um parasita, embora forçado; ele desperdiçara o dinheiro que possuíra fazendo negócios que julgava excelentes. No momento em que o narrador, que é oftalmologista, toma conhecimento de sua história, resolve operá-lo gratuitamente, a fim de tirá-lo da escuridão e restituir-lhe a luz.
O histórico familiar de Bento mostra que a sua cegueira fora provocada pelos próprios filhos, que o espancavam amiúde:
Os filhos, já taludos por esse tempo, saíram ao pai. Nunca frequentaram escolas, nem queriam saber de trabalho. Não se “sojeitavam”. Pelas vendas, à toa pelas ruas, viraram os piores moleques da terra e transformaram num inferno a casa do Bento. Exigências, brigas diárias, palavrões imundos e uma lambança das mais sórdidas. E como o pai, frouxíssimo de caráter, nunca tivesse ânimo de lhes torcer o pepino, eles acabaram torcendo o pepino ao pai. Tratavam-no como alguém trata cachorro, aos pontapés, e por fim, quando a miséria chegou e faltou um dia feijão à panela, foram às últimas – espancaram-no.[40]
O espancamento perpetrado pelos filhos mudou quando o pai, cego em consequência das surras que levava, passou a esmolar e as pessoas, condoídas, lhe proviam do necessário: “Como em Rio Manso não existissem cegos, todos se apiedaram dele. Davam-lhe roupas velhas, chapéus, mantimentos, dinheiro – afora consolações verbais”.[41] Os filhos, que tinham saído de casa, voltaram à medida que a situação financeira de Bento melhorava. Temos então um segundo caso de parasitismo: os filhos-parasitas sugavam o cego-parasita. Com seu novo status de provedor, a situação se inverteu: o pai sem visão “acostumou-se a mandar e a ser obedecido. E não o fizessem! E não o fizessem depressa! Sua mão, outrora tão frouxa, esmagava agora todas as resistências”.[42] Os filhos suportavam tudo, porque viviam do que o pai lhes dava.
Condoído, o médico-narrador providenciou tudo para tirar a catarata dos olhos de Bento, que se mostrou muito entusiasmado em realizar a cirurgia. Entretanto, no dia marcado, o cego não apareceu. Geremário, o auxiliar do narrador, conhecendo o modo de pensar das gentes da região, antecipou ao médico que o operando não viria. Revoltado, o doutor foi à casa do velho, mas encontrou-a fechada e a notícia que recebeu mostrava como os filhos eram finórios. Percebendo que o pai, uma vez curado, não mais receberia esmolas, raptaram-no na véspera, enganando-o e levando-o para local desconhecido.
Marisa Lajolo, em palestra proferida na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, em 03 de dezembro de 1998, intitulada “Ética médica, literatura e Monteiro Lobato”, expõe a origem do conto, a partir de uma carta do escritor a seu correspondente Alberto Rangel: na estação de Pindamonhangaba, Lobato viu um aleijado num carrinho, ralhando enérgico com os filhos; ele percebeu que, apesar de viver sem pernas, ele era o mandão. Daí a história formou-se em sua cabeça.
De acordo com a palestra que proferia, Marisa Lajolo faz ainda a seguinte pergunta aos ouvintes:
O leitor fica de camarote para julgar, de fora, o gesto da família: um paciente tem direito de recusar tratamento? Devia o médico denunciar o rapto e forçar a cirurgia? Se o rapto não contou com a conivência de Bento a questão cresce em complexidade, agravada por ter sido a catarata causada por uma surra dos filhos. […]
No caso deste conto, pode-se escolher vestir a pele do jovem médico itinerante. Ou a do homem com catarata. Ou a de Geremário. Ou ainda a de algum de seus familiares.
É nesta mudança de identidade, temporária e reversível, que se aprende a pensar de outros ângulos o longo e delicado eixo que vai do certo ao errado, categorias que, ao longo da história, dão diferentes expressões à antítese Bem/Mal.[43]
O médico-narrador é diferente de outros que aparecem em narrativas curtas de Lobato, a exemplo do que vê em “Pollice verso”, conto inserido em Urupês. Os esculápios na ficção lobatiana são sempre rematados espertalhões e aproveitadores (de certa forma, também chupins).
O médico de “O Rapto”, porém, queria fazer uma caridade, mas sua intenção não se concretizou. A questão da caridade é assunto de outros tipos de contos e se insere na “transvaloração de valores”, categoria cara à filosofia de Friedrich Nietzsche, de quem Lobato era leitor e admirador.
CONCLUSÃO
Vários contos do Inferno verde, de Alberto Rangel, tem visível inspiração de Euclides da Cunha. Percebe-se que as narrativas procuram reproduzir a estrutura de Os Sertões, apresentando, inicialmente, o espaço (ou seja, a terra amazônica); em seguida, falando genericamente sobre o homem da região ou apresentando os personagens; por último narrando o conflito, o que equivale à luta.
Certamente, a alegoria do apuizeiro e sua transposição para o confronto entre o caboclo Gabriel e o latifundiário Roberto foi inspirada nas descrições majestosas de Euclides sobre a flora amazônica, com a incessante luta dos vegetais por busca de espaço e luz. A propósito, é sugestivo o seguinte trecho de À Margem da História:
A flora ostenta a mesma imperfeita grandeza. Nos meios-dias silenciosos – porque as noites são fantasticamente ruidosas –, quem segue pela mata, vai com a vista embotada no verde-negro das folhas; e ao deparar, de instante em instante, os fetos arborescentes emparelhando na altura com as palmeiras, e as árvores de troncos retilíneos e paupérrimos de flores, tem a sensação angustiosa de um recuo às mais remotas idades, como se rompesse os recessos de uma daquelas mudas florestas carboníferas desvendadas pela visão retrospectiva dos geólogos.[44]
Às influências euclidianas, já que Rangel é considerado um epígono do autor fluminense, somam-se as tendências da época, ao cientificismo que embebeu a literatura naturalista e pré-modernista. Há muito de darwinismo nessa visão, qual seja, a de que só os fortes sobrevivem.
Quanto a Monteiro Lobato, a preocupação com o parasitismo (e sua condenação no ambiente social) está teoricamente exposta no livro Mr. Slang e o Brasil (1927). Nesse livro, composto de vários crônicas dissertativas ou dialógicas, o narrador e seu amigo, o britânico Slang, conversam sobre os problemas diversos que assolam o Brasil.
Na verdade, Mr. Slang é o alter ego de Lobato, enquanto o narrador, que mais imediatamente se identifica com este, representa o senso comum. O amigo do inglês começa a falar de determinado assunto, mas imediatamente é rebatido pelo outro, que apresenta opiniões salvadoras sobre a política e a economia do Brasil.
Enquanto conversam, jogam xadrez e as partidas, evidentemente, são ilustrações dos embate que travam no plano intelectual, bem como das forças internacionais que se digladiam. Como Mr. Slang é o contraponto para que Lobato exponha suas ideias para o progresso brasileiro, o estrangeiro sempre derrota o brasileiro. No xadrez, entretanto, um ou outro pode vencer.
Um dos males do Brasil apontados pelo inglês está no capítulo XIII, sintomaticamente intitulado “Do parasitismo camuflado”. Mr. Slang expõe na ocasião um problema que ainda hoje se verifica no Brasil, qual seja, o do desperdício de dinheiro pelas municipalidades: “Em 90 por cento das Câmaras a receita só dá para o pagãmente do pessoal arrecadador. É um dos mais belos casos de parasitismo que possuo em minha coleção”.[45] E, um pouco mais adiante, para esmagar de vez, com bastante cinismo, as inócuas objeções do representante do senso comum, afirma: “O parasitismo é a lei da humanidade. Uma criatura parasita outra…”[46]
Assim tem sido no reino animal e no reino vegetal. Especificamente no nível humano, essa circunstância ainda não foi eliminada, verificando-se entre países e mesmo entre pessoas em suas relações econômicas e pessoais. Os contos de Alberto Rangel e Monteiro Lobato nos levam a essa reflexão, para que possamos sonhar com a Utopia.