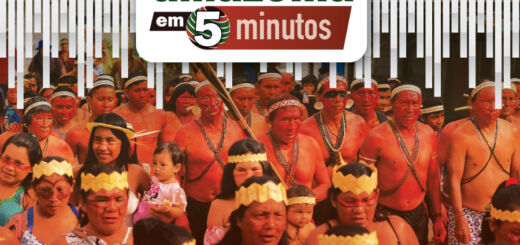“É o que dá para comprar”: desejo e conveniência ou disponibilidade e poder de compra?
Artigo analisa os fatores que influenciam o consumo alimentar em comunidades ribeirinhas da Amazônia sazonal


Entre a seca extrema e a invasão dos ultraprocessados, comunidades ribeirinhas da Amazônia enfrentam um cenário de insegurança alimentar,
transformação cultural e desafios à sobrevivência. Foto: Daiane da Rosa.
Era agosto e a seca extrema já assolava as comunidades ribeirinhas na região do Médio Rio Solimões, Amazônia brasileira. Olhei através da janela e, em cima de uma mesa, estava uma garrafa térmica. No ar, uma mistura de aroma de café com peixe frito, ainda do almoço. O flutuante1Casas construídas em cima de estruturas que flutuam, geralmente sustentadas por toras de açacu (Hura crepitans) uma madeira leve e de baixa densidade. Flutuantes facilitam a adaptação ao ciclo hidrológico e a flexibilizando a localização. ficava na beira de um cano2Cano, canal de rio ou paranã são braços de rio que se conectam aos canais principais e podem ter formações hidrológicas e geológicas diferentes, dependendo da sua tipologia de formação. , e já praticamente não havia mais água correndo ao redor. Estava muito quente, mais de 30ºC imagino, a sensação era a de estar dentro de uma panela de pressão. De vez em quando, uma brisa muito leve e fresca vinha da mata, a não mais de 100 metros barranco acima.

Homem caminha por onde era o leito do Rio Solimões. Foto: Antônio Caldas / Amazônia Latitude
Realidades ribeirinhas em tempos de seca
O almoço tinha sido feito pela dona Eidi, completo, com arroz, macarrão, feijão, vegetais (que levamos de Tefé, assim como o frango congelado), frango frito, peixe frito e cozido, e farinha, obviamente. Neste dia teve até refrigerante. A minha vontade em acessar a garrafa de café foi interrompida pela voz do Seu Rozinei dizendo: “Dona Daiane, se a senhora não terminar as entrevistas hoje, amanhã já não consegue mais entrar de voadeira3Barco construído em metal, com motor de proa, comumente utilizado para deslocamentos nas cidades e comunidades ribeirinhas da Amazônia. aqui, vai ter que parar lá fora no Rio (Solimões) e pedir pra alguém ir buscar a senhora lá no barranco”.
Aquilo me fez pensar em muitas coisas. Primeiro, que eu tinha mesmo que terminar as duas ou três entrevistas que ainda faltavam naquela mesma tarde. Depois, em como devia ser dura a vida daquelas pessoas na seca, isoladas atrás de uma ilha com aquela imensidão de água à frente, mas sem conseguir acessá-la.
Também me perguntei como sobreviveriam naqueles três meses que viriam a seguir. Como comprariam o café e o açúcar? Como se alimentariam, se os peixes já estavam morrendo presos nas águas mais quentes da estação? Meus pensamentos foram interrompidos pela dona Eidi dizendo, “Dona Daiane, a senhora quer um café?”. Meu corpo todo respondeu que sim, mesmo com quase 40°C de sensação térmica lá fora.

O almoço tinha sido feito pela dona Eidi, completo, com arroz, macarrão, feijão, vegetais, frango frito, peixe frito e cozido, e farinha. Foto: Daiana da Rosa.
Transição alimentar em curso
Manter os sistemas e práticas alimentares tradicionais tornou-se um desafio para os povos indígenas e as comunidades locais em contexto de transição alimentar e climática. Nas comunidades ribeirinhas da Amazônia brasileira, mudanças no padrão de consumo vêm sendo documentadas desde a década de 1990, revelando um padrão que se distancia progressivamente das dietas tradicionais (De Lima et al., 2020; Murrieta; Dufour; Siqueira, 1999; Piperata, 2007; Piperata et al., 2011; Silva, Rodrigo de Jesus et al., 2017). As mudanças alimentares também são diretamente influenciadas pelas alterações climáticas e pelos padrões de sazonalidade alterados. Segundo nossos interlocutores, as secas estão cada vez mais secas e as cheias cada vez menos cheias.
Secas drásticas na Amazônia, como tem sido reportado desde 2023, vêm influenciando os modos de vida das comunidades ribeirinhas, bem como sua alimentação e migrações para as cidades do entorno. Há quem diga que já foram vistas secas muito maiores antigamente e que estes são ciclos, que acontecem de tempos em tempos.
O impacto da renda
Contudo, vivemos em outra época. Uma época em que a acessibilidade e a mobilidade são facilitadas para as famílias ribeirinhas que possuem maiores rendas. Isso, em grande parte, graças aos benefícios do Governo Federal através de programas de transferência de renda, principalmente o Bolsa Família. Estes programas, implementados a partir de 2003, passaram por alterações ao longo dos anos, mas continuam proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida destas populações, e mais acesso à saúde e à educação (Neves et al., 2022; Santos et al., 2017). O benefício do Bolsa Família e de programas como ele é inegável. Porém, com o aumento da renda vieram também as mudanças alimentares. E com estas transformações nos hábitos de vida e nas práticas e sistemas tradicionais, um agente oportunista ganhou espaço: os itens ultraprocessados.

As comunidades, já debilitadas pela falta de acesso a recursos essenciais, enfrentam agora um desafio ainda maior para sobreviver. Foto: Antônio Caldas / Amazônia Latitude
O supermercado como protagonista: a epidemia dos alimentos fabricados
É muito comum se ver, hoje em dia, nas despensas das casas, flutuantes e escolas ribeirinhas alimentos industrializados e ultraprocessados em quantidade. Posso afirmar que, pelo menos, metade do que é consumido nas comunidades participantes da nossa pesquisa é proveniente do supermercado. Calabresa, sopinha (miojo), salsicha, refrigerantes, margarina, suco de pacotinho, biscoitos recheados e salgados, carne enlatada em conserva e militos – como o salgadinho industrializado é conhecido localmente – são apenas alguns dentre os itens.
Estudos recentes indicam um aumento significativo na ingestão de alimentos ultraprocessados entre povos indígenas e comunidades locais (Gama et al., 2022; Sato et al., 2020; Souza; Villar, 2018). Esses itens alimentares são reconhecidos globalmente como fatores de risco para a sindemia de doenças não-comunicáveis associadas à dieta. Formulados a partir do fracionamento de alimentos inteiros, itens alimentares ultraprocessados são ricos em gorduras, óleos, açúcares, sódio e aditivos, tais como corantes, emulsificantes e aromatizantes, tornando-os sensorialmente atrativos para os seres humanos (Monteiro et al., 2019).
Ambiente alimentar
A renda, as características ambientais e as regras do mercado confluem para o que chamamos de ambiente alimentar (Herforth; Ahmed, 2015). É neste ambiente que as populações ribeirinhas se veem condicionadas e levadas a consumir o que é mais barato, o que está mais exposto, o que aparece mais nas propagandas e, é lógico, o que vem na cesta básica. Segundo o Governo Federal, a nova cesta básica deveria ser composta por uma variedade de leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, frutas, verduras e legumes, proteínas de origem animal, castanhas, leites e derivados (Silva, Marcos, Anderson Lucas da et al., 2024).
Infelizmente, não é o que vemos no município de Tefé, interior do estado do Amazonas. Aqui, a cesta básica é composta variavelmente por açúcar, café, margarina, farinha regional, arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, biscoito doce e salgado e carne enlatada. Estes alimentos são vendidos nos supermercados, já ensacados, por valores mais baixos, influenciando a sua compra pelas famílias em situação de vulnerabilidade social.
Somente as famílias com maior renda, e neste caso inclui-se aqui assalariados, famílias que recebem mais de um auxílio governamental, bem como prestadores de serviços, reportaram adquirir frutas e verduras no seu rancho4Rancho refere-se ao conjunto de itens alimentares adquiridos em estabelecimentos formais, tais como supermercados. Estas compras, em geral, são realizadas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente.. Mas, devido aos altos preços, principalmente durante a seca – momento em que a logística de transporte de alimentos, principalmente perecíveis, através do porto de Manaus se torna mais desafiadora, demorada e, por isso, também mais cara – apenas algumas poucas famílias conseguem ter acesso a alimentos frescos comprados no supermercado.
Estamos falando então que, em comunidades ribeirinhas localizadas em duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) na Amazônia brasileira, os industrializados, em especial os ultraprocessados, são tanto quanto ou mais consumidos hoje do que os alimentos obtidos no meio natural através da pesca, extração e da caça e agricultura de subsistência? Sim! Por mais que a base da alimentação em comunidades ribeirinhas por toda a Amazônia ainda seja o peixe e a farinha de mandioca regional, os industrializados já compõem, em diversidade, a maioria dos alimentos consumidos. Quando falo em diversidade, estou falando em número de produtos consumidos, não necessariamente em quantidade ou frequência de consumo.

É muito comum se ver, hoje em dia, nas despensas das casas, flutuantes e escolas ribeirinhas alimentos industrializados e ultraprocessados em quantidade. Foto: Daiane da Rosa.
Sazonalidade e estratégias alimentares
Para além disso, e voltando às questões de origem ambiental, o pulso de inundação também molda o consumo alimentar, principalmente em comunidades de várzea. Na cheia, há uma maior dispersão dos peixes e o acesso aos recursos naturais extraídos da floresta é dificultado. A agricultura também fica impossibilitada neste momento, com o avanço das águas sobre as áreas de cultivo. Na cheia a logística é facilitada e o acesso às cidades menos dispendioso. Então, as famílias acabam recorrendo mais aos supermercados.
Por outro lado, na estação seca, os peixes ficam mais concentrados nos corpos d’água, mas, segundo os próprios ribeirinhos, o período da vazante é o melhor para as pescas. Quando seca muito, o peixe fica “contaminado” pela água parada, com menor oxigenação, e por vezes, é pescado já à beira da morte. Há mais caça e extração, mas há já poucas frutas silvestres. Entretanto, é possível plantar, para colher nas vésperas da próxima enchente. Quando a pesca começa a ficar mais dificultada, mais uma vez eles recorrem aos supermercados. Como foi dito anteriormente, na seca a logística fica mais custosa, assim como os produtos alimentícios. Desta forma, a estratégia de enfrentamento adotada é: ou compram menos alimentos e mais baratos ou gastam mais para comprar a mesma quantidade e qualidade, quando têm condições financeiras para tal. Precisamos considerar também, que os gastos com deslocamento – gasolina, diesel, gás etc. – aumentam muito nesta época. O que podemos afirmar, em linhas gerais, é que há uma pronunciada insegurança alimentar sazonal em comunidades ribeirinhas vivendo em ecossistema de várzea. A conveniência, outro fator influenciador do ambiente alimentar, é também condicionado pela sazonalidade.
Do regatão ao supermercado: desejo e apropriação alimentar
E o desejo? Bem, o desejo é em boa parte resultado do processo de aculturação alimentar. Esta integração de novos itens alimentares não é recente para as comunidades ribeirinhas. Desde a época da exploração de seringa na Amazônia brasileira, no final do século XIX, o consumo de alimentos industrializados é reportado (Bentes, 2025). Nossos informantes relataram que as compras naquela época eram realizadas de duas formas: com os patrões5Patrão era a designação dada ao proprietário da terra onde a borracha era extraída. Era uma figura de poder que obtinha o controle da extração, comercialização e do que era consumido pelos seringueiros.e/ou nos regatões6Regatão é o termo utilizado para os barcos regionais que percorriam os rios amazônicos como tabernas flutuantes, vendendo, comprando e permutando em sua maioria gêneros alimentícios.. Os patrões, em geral, trocavam comida por trabalho. Os seringueiros e suas famílias eram impedidos ou até mesmo proibidos de fazerem roças para produzirem seu próprio alimento, tornando-os “reféns alimentares” do patrão. No armazém do barracão7O Barracão era uma construção que servia para armazenar a borracha extraída que seria vendida, e onde ficava localizado o armazém, onde podiam-se comprar gêneros alimentícios industrializados na época. Geralmente era localizado próximo ao porto de embarque e desembarque de mercadorias e borracha e poderia estar conjugado à casa do Patrão., as famílias dos seringueiros podiam comprar alimentos provenientes da indústria, como sal, café, açúcar e aguardente. Porém os valores dos produtos sempre ultrapassavam o que se recebia, estando os trabalhadores permanentemente em dívida com o estabelecimento. Já com os regatões a relação era diferente. Estes barcos que navegavam os rios amazônicos desde o século XIX, vendiam e trocavam uma gama variada de produtos, para além dos alimentícios (Henrique; Morais, 2014). Os anciãos com quem conversamos relataram ter consumido alimentos industrializados, pela primeira vez, no início do século XX. Segundo eles, esses produtos eram obtidos por meio de compra ou troca com os regatões, utilizando alimentos produzidos ou extraídos localmente. Café em grãos, açúcar em torrão ou açúcar marrom, arroz, bolacha, manteiga e queijo do reino, todos vendidos por quilo e sem embalagens, foram os mais citados. Não é por coincidência que Darcy Ribeiro chamou o regatão de “criador de necessidades e instrumento de satisfação” (Ribeiro, 1979).

Na Amazônia, o regatão foi um precursor dos supermercados que conhecemos. Foto: Marcos Colón/Amazônia Latitude.
Na Amazônia, o regatão foi um precursor dos supermercados que conhecemos. Os regatões praticamente não existem mais, segundo os nossos interlocutores. Alguns foram descritos, atualmente, como “intermediários na compra do peixe”, “vendedores de gelo”, ou então “vendedores de caça”. Na região onde vivem as comunidades participantes da pesquisa, esse meio de aquisição de alimentos não está mais disponível. Os supermercados, por sua vez, trazem outra proposta. O local onde os produtos estão expostos, os preços, a propaganda, as promoções, tudo influencia a compra. E o desejo. O acesso, físico e financeiro, facilita a aquisição do desejo. E as grandes multinacionais que produzem os itens alimentares ultraprocessados sabem e se aproveitam disso. O desejo não é construído apenas social e culturalmente. Ele também é construído a partir do sabor e das propriedades sensoriais do alimento. Ou vai me dizer que você nunca salivou quando viu a comida que gosta em uma propaganda na TV ou na prateleira do supermercado? E os ultraprocessados cumprem muito bem esse papel. Eles são fabricados pela indústria para cumprir o seu propósito. E o seu principal propósito é fazer com que queiramos saboreá-los, desejá-los.
Na confluência entre desejo e acesso, poder de compra e conveniência, as comunidades ribeirinhas é que saem perdendo. O aumento nos resíduos sólidos provenientes de embalagens alimentares e a crescente sindemia de doenças crônicas não-transmissíveis associadas à alimentação são um desafio para a Saúde Única no contexto amazônico. Poluição dos solos cultiváveis, da floresta, das águas dos rios e dos peixes; aumento de casos de diabetes tipo 2, de doenças cardiovasculares, e de obesidade, em meio a um sistema de saúde precário e que enfrenta desafios de infraestrutura, recursos humanos e acesso; são apenas alguns dos fatores que acentuam os riscos à saúde humana, ambiental e à biodiversidade na Amazônia brasileira.

Na confluência entre desejo e acesso, poder de compra e conveniência, as comunidades ribeirinhas é que saem perdendo. Foto: Daiane da Rosa.
O papel do poder público e dos saberes locais
A saúde destas populações depende do poder público em muitas instâncias. O reconhecimento de práticas alimentares tradicionais oferece oportunidades para políticas de valorização de sistemas alimentares locais. A promoção de estratégias de educação e sensibilização alimentar e ambiental, aliadas à melhoria da infraestrutura de saúde e saneamento a nível local, pode contribuir para mitigar os impactos negativos sobre a saúde humana e os ecossistemas locais. O entendimento dos diversos cenários e contextos regionais, considerando as amplitudes e as pluralidade amazônicas, se torna fundamental para a proposição de políticas públicas cientificamente embasadas, que sejam ambientalmente sustentáveis e culturalmente sensíveis.
Diante desse cenário complexo e em constante transformação, é urgente repensar os caminhos do consumo alimentar em comunidades ribeirinhas amazônicas. O que está em jogo não é apenas a saúde das pessoas, mas a integridade de um sistema socioecológico inteiro, profundamente interdependente. O desafio não está em resgatar um passado idealizado, mas em construir futuros possíveis, onde políticas públicas respeitem os saberes locais, incentivem a produção e o consumo de alimentos saudáveis e promovam justiça alimentar e ambiental. Na Amazônia, comer nunca foi apenas uma questão de escolha individual — é, sobretudo, uma questão de acesso, pertencimento e sobrevivência. E, cada vez mais, também uma questão política.
Referências
Daiane Soares Xavier da Rosa é Bióloga (UFSC), mestre em Zoologia (UFPR), cozinheira e ativista alimentar e ambiental. Atualmente é doutoranda em Ciências da Sustentabilidade – Recursos, Alimentação e Sociedade, pela Universidade de Lisboa, e pesquisadora associada ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.
Montagem da página e acabamento: Alice Palmeira
Edição e Revisão: Juliana Carvalho
Direção: Marcos Colón