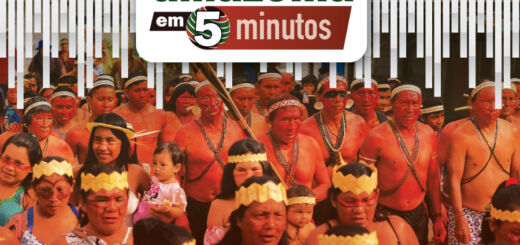Latitude Podcast #17: Reflexões sobre o índio do buraco

Último de seu povo, o índio do buraco virou símbolo de resistência e caso de reflexão sobre genocídio, etnocídio e ecocídio
O indígena conhecido como “índio do buraco” viveu isolado durante, pelo menos, 26 anos, e faleceu no final de agosto. Ele era conhecido dessa forma, pois escavava um buraco dentro de todas as suas moradias, as palhoças, e também ganhou apelido “o último Tanaru” e “índio Tanaru”.
O último de seu povo, que foi atacado por fazendeiros em 1995, sua vida foi símbolo de resistência dos povos isolados. Vivia sozinho e isolado na Terra Indígena Tanaru, no sul de Rondônia, e era monitorado à distância pela Funai desde 1996, quando foi encontrado pela primeira vez. Mas, como nunca aceitou contato com não-indígenas, a etnia e o idioma do “índio do buraco” nunca foram descobertos.
O indígena foi encontrado sem vida no dia 24 de agosto. Servidores da Fundação Nacional do Índio, a Funai, o encontraram em sua rede e a morte, aparentemente, foi de causas naturais.
Desde 1998, a área onde ele vivia, a Terra Tanaru, é protegida por uma restrição de uso aplicada pelo governo. A restrição é um instrumento da lei que proíbe a entrada de invasores em territórios habitados por povos isolados. Essa medida faz com que a exploração dessas terras por madeireiros, garimpeiros e outras atividades seja ilegal.
Como a Terra Tanaru não é demarcada, a restrição de uso foi importante para proteger o indígena do buraco. Em 2015, uma portaria da Funai reforçou as proteções da restrição e estendeu a duração da medida até 2025. Mas agora que não existem mais indígenas no território, há uma grande dúvida sobre a permanência ou não da proteção.
Em uma entrevista conjunta que explora a dinâmica dos povos isolados no Brasil, a história do indígena do buraco e o futuro da Terra Indígena Tanaru, Antenor Vaz, que foi coordenador de políticas para índios de recente contato na Funai, e Marcelo dos Santos, que trabalhou na proteção do indígena Tanaru, discutem políticas públicas para isolados e conceitos como ecocídio e etnocídio.
Como se caracterizam os indígenas isolados? O Brasil tem mais povos isolados do que outros países?
Antenor Vaz: De uma forma geral, a partir da publicação das diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) e do informe da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 2012 e 2013, respectivamente, se consolidou o termo “povos indígenas em situação de isolamento”. Isso se relaciona muito mais com o estado em que esses índios estão do que, necessariamente, enquadrá-los numa definição. Apesar disso, no Brasil, por influência do próprio Estado, usamos o termo “povos indígenas isolados”. Existe um consenso bastante evidente de que esses povos, por razões traumáticas ocorridas ao longo de sua história, que geralmente levam à morte, decidiram não estabelecer relações permanentes ou contínuas com pessoas fora de seu grupo. Sejam ribeirinhos, ser invasores, ou as próprias comunidades indígenas com as quais eles compartilham ou dividem território.
É difícil saber se no Brasil há mais indígenas nessa situação do que em outras nações, porque as metodologias utilizadas em cada país para confirmar a existência de povos isolados são distintas. Mas, independente dessa questão, pela dimensão continental do Brasil e pela dimensão na porção amazônica que está no Brasil, é indiscutível que no Brasil existe uma maior quantidade de registros, não necessariamente de povos.
Marcelo, o senhor ficou muito conhecido pelo seu protagonismo na denúncia do massacre de índios em Corumbiara, em Rondônia, que virou aquele magistral documentário do Vincent Carelli. Mas como começou seu trabalho com indígenas isolados?
Marcelo dos Santos: Em Corumbiara, eu não trabalhava ainda na questão de isolados, estava indo lá para saber informações sobre a presença de povos no local. Essa questão dos isolados foi a posteriori, mas em decorrência do meu trabalho como indigenista e como sertanista. Inicialmente, trabalhei com os nambiquara do Norte. Vivi em aldeias por 14 anos, em meio a muitos embates, por conta de terras e madeireiros. Minha família e a própria Funai [Fundação Nacional do Índio] me aconselharam a sair desse trabalho por questão de segurança pessoal. Eu aceitei porque sempre foi uma coisa que me abriu, porque mesmo quando trabalhava no meu quarto, o garoto e a gente saíram à procura de que são de índios isolados.
Depois disso, ingressei nesse trabalho e comecei a amealhar informações sobre a presença de povos em Rondônia. Junto com o administrador da Funai, Ariovaldo dos Santos, na Terra Indígena Massaco, comecei a focar em indígenas isolados. Trabalho nesta área desde 1995.
O Brasil tem um modelo singular, ao propor que o contato com os isolados seja evitado e a ação do governo concentre-se em demarcar suas terras, impedir invasões e a entrada de estranhos responsáveis por doenças e devastação ambiental. Como surgiu esse modelo no Brasil? E por que vemos tantas falhas nele?
Antenor Vaz: Existe o marco simbólico, que seria 1987, quando houve um encontro de sertanistas. Muito antes desse encontro, a Funai, junto a algumas organizações indígenas mistas já começavam a discutir essa política brasileira. E quando se tinha informação sobre um povo isolado, a prática era já ir lá diretamente para fazer o contato. E ressalto que a grande maioria dos contatos que foram feitos antes de 1987 tinham como função liberar o caminho para grandes obras serem construídas. A maioria dos contatos se davam com um índice de mortalidade muito alto. Mas com esse encontro de sertanistas, eles decidiram que a melhor proteção para os povos indígenas isolados seria não estabelecer o contato. E foi exatamente na Terra Indígena Massaco que, pela primeira vez, uma equipe se constituiu e constituiu uma metodologia de proteção.
Foi somente a partir dessa metodologia que nós conseguimos um conjunto de informações tão consistentes, que permitiu romper essa questão de entrevistar os índios. Então, todo trabalho de desenvolvimento para dizer se os índios existiam, se era verdade que existiam, também acrescentou a essa metodologia o levantamento de informações sobre quem são esses índios, o que é que eles comem, se pescam, caçam, onde conseguem a matéria-prima para a confecção de sua cultura material, como constróem suas habitações, como manejam esse território. Foi possível que o antropólogo, a partir dessas informações, criasse um relatório circunstanciado que possibilitou a identificação do território desse povo, pelo menos naquela fotografia ali, naquela época. Hoje em dia, afirmamos com bastante clareza que essa posição é em decorrência da autodeterminação desses povos. A partir desse princípio da determinação, o Estado deve reconhecer a situação de isolamento como uma situação legítima.
Marcelo dos Santos: E tem uma questão que, nessa situação limite, é do índio do buraco, onde chegamos ao falecimento dele sem conseguirmos identificar a etnia. Não houve nenhum diálogo. Foi feito um levantamento com antropólogos, com os povos da Terra Indígena Tubarão/Latundê, os Aicanãs, com os Tupi. E eles falaram que existiam índios naquele local, mas não conseguimos levantar a etnia.
Antenor Vaz: Nesse sistema todo, vale destacar o seguinte: a ação de proteção para os povos indígenas isolados no Brasil sempre foi muito marcada pela ação do Estado e da Funai. Portanto, ao longo de muito tempo, apenas a Funai era detentora de todo esse conhecimento. E, por outro lado, só mais recentemente, mais ou menos em 2016, é que a Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) começou a colocar na sua agenda a necessidade de se discutir essa questão do ponto de vista indígena. O posicionamento da Coiab sempre se coloca na perspectiva de que sistemas de proteção para os povos isolados sempre existiram. Do ponto de vista dos índios, os povos que compartilhavam territórios, ou que são vizinhos, tinham e têm uma política de relacionamento, mesmo sendo isolados. Muito interessante observarmos que hoje o movimento indígena começa também a ser protagonista nessa questão e principalmente agora, quando o Estado recua fundamentalmente em suas atribuições.
Tem um pouco a ver com uma pergunta anterior, que é por que esse modelo é tão difícil de se concretizar. É porque era muito focado no Estado, e não tinha a participação de organizações indígenas? E agora que a Coiab está aí participando mais de perto, será que haverá uma saída para isso?
Marcelo dos Santos: Acho que tem uma questão conjuntural aí, que é a desse último governo, que foi o desmantelamento e destruição do trabalho de campo. Nós estamos numa situação retrógrada da Funai e do trabalho indígena.
Antenor Vaz: Existe também um aspecto que é a questão de ser um trabalho muito especial, usado para formar quadros, para as pessoas trabalharem com localização e proteção. Monitoramento de povos indígenas isolados é uma coisa que leva no mínimo três, quatro anos. Isso se os olhos da pessoa realmente brilhem para essa questão. Segundo aspecto, é exatamente a conjuntura política. Os órgãos responsáveis foram sendo sucateados de recursos humanos e recursos materiais.
Além disso, houve um sucateamento moral total. Temos hoje um governo que é completamente anti-indígena e não esconde. O próprio movimento indígena, que se debruça sobre as questões mais amplas, teve que retroceder em suas lutas para garantir os direitos que já tinham sido conquistados. E quando você vê esse aspecto dentro da Funai, um setor absolutamente especializado, específico, o coordenador geral de indígenas isolados, por um certo tempo, foi um missionário que tinha como perspectiva o contato.
E fica como você disse. Vestir a camisa fica muito mais difícil nessa situação. Parece que está lutando contra, o tempo inteiro.
Antenor Vaz: E ainda mais, agregue uma determinada mudança de comportamento geracional. Os jovens de hoje, cujos olhos brilham para essa questão, também têm como prioridade a sua vida pessoal.
Marcelo dos Santos: E reclamam que têm que voltar de semana em semana, quando ficávamos quinze, vinte dias dentro do mato.
Antenor Vaz: Você está numa base de proteção no Brasil, de proteção ambiental, e a legislação do servidor público diz que você trabalha oito horas por dia e ainda tem que parar na hora do almoço. Aí você está lá no confins do mundo, e como se adequa a essa legislação? Para esses casos específicos, devia ter uma legislação específica.
Marcelo dos Santos: Compensação pelo fato de extrapolar seu horário, não tem nada disso. Mas acho que faltou mais um detalhe sobre a questão das terras, que, além da Funai, que está nessa situação, também os órgãos paralelos de fiscalização que poderiam estar colaborando, como o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) foram destruídos.
É uma questão que pode parecer meio óbvia, talvez, mas por que é preciso proteger os povos indígenas, em especial povos indígenas isolados?
Antenor Vaz: A fundamentação de tudo isso é a questão da vulnerabilidade. Eles são povos extremamente vulneráveis, que estão submetidos a um conjunto de vulnerabilidades que, muitas das vezes, é o próprio Estado quem promove.
Marcelo dos Santos: Promove a doença e depois sai e deixa os índios abandonados.
Antenor Vaz: Se existe um povo indígena que não quer estabelecer relações com ninguém, fora do seu seu grupo, quem protege esse povo? Então, pela Constituição brasileira, deve ser o Estado brasileiro.
Marcelo dos Santos: E a questão jurídica que permeia isso, pois a questão do índio do buraco cresceu. O Estado sabia quem estava lá, tinha provas materiais da presença dele, mas o Estado não queria reconhecer o direito dele ter a terra. Foi preciso que a Justiça fizesse os trâmites administrativos que estão registrados para as terras indígenas, para a Funai entrar como litisconsorte [fenômeno processual caracterizado pela pluralidade de sujeitos] para poder garantir a terra para ele. Pela Funai, a gente não conseguia. Na época, a fundação disse que ele não era um povo. Se não existia povo, não tinha como garantir terras.
Antenor Vaz: Mas o problema é que o Estado, por não exercer a sua prerrogativa de defesa ou de proteção, permite que os territórios desses povos sejam invadidos e daí a vulnerabilidade fica numa dimensão muito maior.
Marcelo, você esteve próximo do monitoramento do indígena conhecido como Índio do Buraco, que viveu isolado por décadas e faleceu no final de agosto. No que exatamente consistia esse trabalho de monitoramento? Como era o cotidiano, o dia a dia?
Marcelo dos Santos: Não tínhamos condições de ficar sistematicamente o tempo todo na área. No início, marcamos muito mais a presença, exatamente por causa dos madeireiros e pistoleiros e da história traumática de seu povo. À medida que as coisas foram se sistematizando, foram se acomodando. Aí partiu para a situação de verificar se ele estava vivo, que área ele estava ocupando dentro da terra, se ele não tinha saído da área, porque teve momentos que ele precisou fugir. O Altair Algayer [sertanista e chefe de proteção aos índios isolados no vale do Guaporé] fez um levantamento minucioso de todos os lugares onde ele esteve.
Uma vez, o índio avisou ao Paulo, que é um companheiro nosso, que ia cair no buraco que ele escavou. Ele estava próximo e gritou quando o Paulo ia cair no buraco. Então a relação, me parece, não era de agressividade nem nada disso. Mas, por insistência de uma outra equipe da Funai, que substituiu o Altair e ignorou as nossas decisões de deixá-lo em paz – ele não queria conversar, estabelecer diálogo -, ele acabou fechando o funcionário da Funai.
Os dois já chegaram a falar um pouquinho sobre isso, mas muita coisa sobre esse indígena continua um grande mistério por causa da morte. Mas o que foi possível com esse saber sobre ele durante a sua vida? Por que pensam que ele escolheu viver por tanto tempo em isolamento?
Marcelo dos Santos: Não foi uma escolha, foi uma imposição de uma situação traumática. Acredito que seu povo foi alvo de dois massacres consecutivos. Esse povo tinha uma relação amistosa com os pistoleiros, tinha uma fazenda. Eles trocavam material, açúcar e ferramentas como o produto da roça, mandioca, pimenta. Só que os fazendeiros, por conta da história de Corumbiara, se assustaram. Decidiram acabar com eles, deram açúcar com veneno. O que restou, fugiu, mas morreu posteriormente, anos mais tarde, com a segunda onda de violência, devido a um ataque de pistoleiros. Só o índio do buraco restou. Ele não tinha motivos para querer conversar com a gente.
Antenor Vaz: E agora, o trabalho de uma série do Altair Algayer aponta alguns padrões de comportamento desse índio. Inicialmente, existia um interesse muito grande que ele passasse a ter mais oferta alimentar. A equipe deixava de brinde algumas coisas, mas se percebeu ao longo do tempo que aquilo que era para comer, ele não comia, mas pegava as sementes para plantar.
Marcelo dos Santos: Plantar, porque ele fazia a roça. Ele sempre teve roça. O último ataque contra seu povo foi exatamente passar o trator em cima da casa dele e derrubar as coisas que acharam valiosas. Eles eram agricultores, mas depois de sofrerem envenenamento, obviamente o índio não ia querer mais nada que fosse para se alimentar. Ele também era caçador, tirava muito mel e migrava toda hora. Não parava no canto, talvez como uma forma de defesa para não ser encontrado.
Antenor Vaz: A equipe que o acompanhava usava um tapir, uma casinha de palha sem paredes, só a palha por cima. E ali tinha um rádio amador, um lona, um facão, essas coisas. Em alguns momentos, ele pegou algumas coisas de lá, mas o que chamou mais atenção foi que um determinado momento ele pegou uma lona de plástico. Depois, essa lona foi localizada numa das casas dele. Outro padrão que, até hoje, não entendemos é porque todas as habitações dele tinham um buraco. Um linguista até conseguiu conversar um pouco com ele na língua dele, mas não entendeu de onde ele veio, porque ele estava ali.
E agora, é possível que tenha algum tipo de pesquisa póstuma da Funai ou de algum órgão independente para descobrir mais coisas sobre ele?
Marcelo dos Santos: Essa situação ainda tem desdobramentos, por conta da terra e por conta dele mesmo. Tem que ter o respeito a ele, a terra, ao genocídio que aconteceu. E parece que existe o interesse de um estudo do DNA do índio do buraco para ver se conseguimos descobrir qual é a ancestralidade dele pelo DNA. Existem povos que estavam ali e, na década de 1950, foram retirados da região. Não sabemos se é o caso dele. Mas a última coisa que simplesmente não pode acontecer é devolver a terra para quem praticou o massacre contra o seu povo.
A Terra Indígena Tanaru, que tem 8.070 hectares, onde vivia o “índio do buraco”, é classificada como restrição de uso desde 1998. Mas na região há muitas fazendas de produção agropecuária e, por não ser um território demarcado, fica sob ameaça de invasões e ataques. Alguma coisa muda com a morte do indígena? A Terra Indígena pode ficar ainda mais desprotegida e negligenciada?
Marcelo dos Santos: Se houver uma grande pressão da sociedade, dos indigenistas, das organizações indígenas de todo o mundo, sobre o Ministério envolvido com essa história. Talvez assim consigamos barrar a intenção desses fazendeiros.
Antenor Vaz: O processo de interdição é um instrumento de restrição de uso. É um ato administrativo do presidente da Funai. Se o presidente da Funai quiser, amanhã ele revoga esse instrumento. A única coisa que o leva a não fazer é exatamente a pressão da sociedade civil, inclusive internacional agora, porque a história extrapolou o Brasil. Mas em um contexto de marco temporal, tudo é possível.
Agora, com a morte do índio do buraco, a sua etnia e seu idioma, que nunca foram conhecidos, sumiram junto com ele. Como isso se insere no contexto de ecocídio, e como se define ecocídio?
Antenor Vaz: No sentido mais amplo, o ecocídio está inserido num contexto de necropolítica. O atual governo é a expressão de um conjunto de atitudes que levam ao extermínio parcial ou total de uma determinada etnia. No caso do índio do buraco, há elementos suficientes para dizer que ele, como último representante de um povo que passou por um processo de genocídio ou etnocídio. O ecocídio está muito mais voltado para a questão da natureza, mas agimos como se os humanos não fossem parte da natureza. O ecocídio tem essa perspectiva de julgar o Estado a partir de suas ações que levaram à destruição de um bioma, ou de parte do bioma. Já o genocídio tem como foco o indivíduo. Mas toda essa cultura jurídica é centrada no direito jurídico moderno, que tem como perspectiva o Ocidente. Esse direito jurídico está calcado no fundamento do capitalismo, para garantir a propriedade às pessoas.
Só no atual governo, de Jair Bolsonaro, os últimos sobreviventes de três povos indígenas isolados morreram: Aruká Juma, o último homem do povo Juma, Karapiru Awa, um sobrevivente de um massacre, ambos mortos por COVID-19, e agora o último indígena desta região do rio Tanaru. Que tipo de projeto é esse, e o que essas perdas representam?
Marcelo dos Santos: Representa a derrocada da nossa sociedade nas suas prerrogativas, que é garantir a eles o direito de ter terra e de viver. E na questão de se manterem nessa situação de isolamento, o Estado não está sendo capaz de suprir essas necessidades.
Antenor Vaz: Para a sobrevivência planetária, só existe uma solução: compreender melhor como os indígenas entregaram esse planeta. Antes desses 500 anos do chamado “descobrimento” do Brasil, eles viveram por milênios nesse planeta e não houve um processo de degradação. Alguns fatores naturais aconteceram, mas não foi uma ação humana. O que vemos hoje em dia é que nossas leis emendam os buracos que o próprio sistema cria, mas não eliminam as causas do problema. Esse desmatamento, não é algo que vem de outra galáxia. Seja pelo sucateamento dos órgãos repressores desse tipo de comportamento, seja pelo discurso que estimula esse tipo de ação – que é o discurso que vemos hoje em dia. O Bolsonaro foi até visitar garimpeiros dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, o garimpo ilegal.
Até mesmo essa questão que levantou, de ser tão difícil entender o ser humano como parte da natureza. Isso também é fruto dos remendos do capitalismo?
Antenor Vaz: Exatamente. Existem conceitos que atribuem que o homem tem cultura porque ele transforma a natureza. Nós criamos termos para falar do meio ambiente como se ele estivesse afastado, e nós somos algo à parte.
Mesmo com 26 anos de monitoramento de evidências, muita gente continuou duvidando da existência do índio do buraco. E isso acontece não só com essa figura específica. O que isso representa?
Marcelo dos Santos: Aconteceu a mesma coisa em Corumbiara, porque na época que estávamos fazendo o levantamento do povo, os fazendeiros se juntaram com políticos da bancada ruralista no Congresso e disseram que eu estava plantando índios na área, porque tinha algum interesse econômico. A trajetória sempre foi essa. Foi a mesma história na hora de reconhecer as terras do Vale do Guaporé. A violência de outrora é o modus operandi. Tive a sorte de ter a colaboração muito próxima do Ministério Público de Rondônia.
Antenor Vaz: É um processo de desqualificação dos agentes do Estado que estão na linha de proteção. Isso é óbvio, né? Basta dizer que o presidente da Funai e o próprio presidente da República falaram sobre o Bruno Pereira e o Dom Philips, que eram “aventureiros”. O que antecede essa desqualificação é a invisibilidade da ação. E aí não só referente aos povos indígenas isolados, mas aos povos indígenas em geral. Mas com os índios isolados, esse processo de invisibilidade se torna muito mais forte, porque eles não se representam. Existe uma vulnerabilidade política nesse caso. Para as pessoas que estão na região e têm interesses no território, é muito fácil chegar lá e fazê-los desaparecer.
Marcelo dos Santos: Ou negar sua presença.
Pensando no índio do buraco, em sua morte e sua vida, por que ele virou um símbolo tão grande de resistência?
Antenor Vaz: De uma certa forma, acho que não existia solidão nesse índio. O que aconteceu na vida desse índio foi tão dramático que o levou a superar a solidão e continuar existindo durante, pelo menos, 26 anos. Ele se torna um símbolo de resistência exatamente por essa superação que ele teve, mesmo sabendo que existiam outros humanos ao seu redor. Mas o que levou isso a existir por 26 anos, sabendo que havia um grupo de pessoas de uma certa forma protegendo-o e fornecendo a ele algumas coisas que melhorariam a sua sobrevivência? Não tem como não pensar nele como um símbolo maior de resistência de um povo que vivenciou um massacre e um genocídio.
Marcelo dos Santos: O país ficou muito, muito triste, e eu obviamente junto com ele, porque foi evidente que o índio do buraco tinha uma intenção clara ao longo desse processo de morte. Esperava que, quando chegasse perto desse momento dele, estando velho, eu pudesse tentar oferecer algum contato. E perdeu se essa possibilidade.