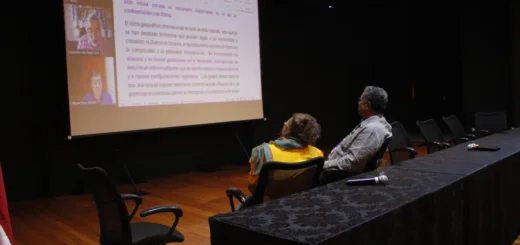O que o assassinato de Marielle Franco nos revela sobre a Amazônia e o Brasil?
Engrenagem miliciana de produção de riqueza e captura do Estado que matou a vereadora não está só no Rio de Janeiro


Arte: Fabrício Vinhas/Amazônia Latitude
Dois mil e duzentos e dois dias após o assassinato brutal de Marielle Franco e Anderson Gomes no Rio de Janeiro, finalmente sabemos quem são os mandantes do crime: um deputado federal, Chiquinho Brazão, vereador na época do assassinato; um conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão; e um delegado, chefe da Polícia civil durante as investigações do assassinato, Rivaldo Barbosa. Além disso, estamos aos poucos entendendo os motivos que fizeram três agentes públicos planejarem um engenhoso plano de assassinato político: a legalização da grilagem de terra urbana para a expansão territorial das milícias na cidade do Rio de Janeiro. A descoberta dos mandantes e de seus motivos, permitem-nos dizer que a engrenagem econômico-política que matou Marielle e Anderson não se restringe a esse estado e, ousamos dizer, é hoje a engrenagem hegemônica nos processos de ampliação capitalista no Brasil. Por isso, entre a captura do Estado e a expansão territorial de negócios violentos, o assassinato revela um Brasil inteiro que hoje escorre em sangue.
Para organizar melhor nossos argumentos neste pequeno texto, em um primeiro momento, centraremos a atenção em alguns detalhes do assassinato político de Marielle. Posteriormente, faremos considerações sobre a maneira como o arranjo de relações que produziu esse assassinato se generaliza no Brasil por meio de vários outros negócios, que também pressupõem a violência e a captura do Estado.
As investigações até agora demonstram que a contraposição de Marielle à pauta da flexibilização das regras de ocupação do solo na cidade do Rio (ou em português mais claro, sua oposição à tentativa de legalização da grilagem de terra urbana) foi o principal motivo para a encomenda de seu assassinato. Estava em trâmite na Câmara dos Vereadores do Rio o Projeto de Lei Complementar (PLC) 174 de 2016, que previa, nos próprios termos do texto, a “regularização dos loteamentos e grupamentos existentes nos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena e Itanhangá, e nos bairros da XVI RA – Jacarepaguá”.
A maioria dos estudos sobre a expansão territorial das milícias no Rio de Janeiro dão conta de que a apropriação privada de terras públicas ou coletivas é um primeiro movimento realizado por esses grupos e, também, uma de suas principais fontes de riqueza. Esse movimento de expansão, após a imposição de uma propriedade que priva qualquer outro processo mais democrático de ocupação do espaço, ainda gera riqueza pela estruturação e urbanização das áreas tomadas, e com a posterior comercialização de serviços à população submetida aos seus domínios territoriais.
Há, lógico, diversas ilegalidades, violências e fraudes nesses processos de expansão. Por isso, para que eles se tornem “legítimos”, precisam do Estado. Primeiro, do Poder Legislativo, para que as regras mudem e se adequem aos interesses privados dos grupos criminosos. Precisam ainda das forças policiais, não apenas para usar de sua violência quando necessário, mas também para obstruir investigações que lhe incomodam, como as do caso Marielle e Anderson. Seus tentáculos estão nos poderes Executivo e Judiciário, e atravessam quase todos os partidos políticos.
Todas as formas de gerar riqueza por parte das milícias se relacionam com a violência e, por vezes, com a morte. Por isso, o Estado — portador do monopólio da violência legítima, já nos diria Max Weber — é necessário. Contudo, essa engrenagem entre o econômico e o político que se desenha na expansão territorial das milícias definitivamente não é inventada por elas, uma vez que estamos falando da regra histórica de acumulação de riqueza no Brasil.
A história do capitalismo no Brasil é marcada por uma geografia de expansão territorial de frentes econômicas que se implantaram, país adentro, ignorando, violentando e, por vezes, matando as formas de vida humana e não humana que encontraram no caminho. Assim foram as frentes do ouro, do gado, dos garimpos, dos monocultivos, da pecuária, além da formação das nossas principais cidades. E continuam a ser as frentes da milícia, da mineração, do agronegócio… da colônia ao império, dos bandeirantes aos pecuaristas, sojeiros e milicianos do século 21, a lógica hegemônica do capitalismo no Brasil é a expansão territorial de negócios que, para funcionarem, precisam reconstruir as leis ao seu favor e produzir uma guerra contra os que se colocam em seus caminhos.

Mina de Carajás (Pará), da Vale S.A., a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. Foto: Marcos Colón/Amazônia Latitude.
Essa geografia da guerra é renovada em pleno século 21, quando quase todas as nossas forças políticas institucionalizadas, de esquerda a direita, escolhem desenvolver o país pela exportação de commodities agrícolas e minerais — por negócios que nunca conseguiram conviver bem com a democracia, pois não se estruturam monocultivos, grandes projetos minero-metalúrgicos, usinas hidrelétricas, estradas, hidrovias, ferrovias, sem mudanças traumáticas nos espaços nos quais essas dinâmicas se instalam, e sem a flexibilização ou o desrespeito às leis que assegurem qualquer direito aos territórios por elas afetados.
Por isso, a mesma engrenagem capitalista que mata para regularizar a grilagem de terrenos urbanos na zona oeste do Rio, na Amazônia, mata para transformar terras indígenas em garimpo ou em uma nova área de expansão do monocultivo da soja; mata para transformar territórios quilombolas em um novo projeto de mineração, ou ainda para transformar territórios camponeses em mais pasto para expansão do gado de corte. Essa é uma engrenagem que está ativa em todo o país, das periferias das cidades aos processos de apropriação de terra rural.
Temos insistido em definir esse capitalismo como uma guerra contra a vida ou como necrocapitalismo, que tem como regra a violência, a morte e a expropriação das energias vitais do planeta. Mas essa guerra não se restringe às atividades econômicas chamadas de ilegais. É um engano restringir sua abrangência unicamente a elas, uma vez que historicamente esse movimento de expansão capitalista também é um movimento de tornar legal e legítimo o absurdo. Assim como naturalizamos e tornamos legal o controle miliciano de bairros em grandes e médias cidades, naturalizamos e tornamos legal Belo Monte e todo seu massacre aos povos amazônicos. Naturalizamos e tornamos legal que a empresa responsável pelos dois maiores crimes ambientais da história do Brasil siga explorando, com a salvaguarda do Estado, quase 6,5 bilhões de toneladas de ferro na província mineral de Carajás.
Enfim, continuamos aceitando a violência de negócios que mercantilizam a vida para que tenhamos lucro e superávit primário. O necrocapitalismo dos garimpos ilegais e da expansão territorial das milícias no Rio de Janeiro está também, na ação de alguns agentes do mercado imobiliário, do mercado financeiro, ou ainda na atuação de grandes corporações da mineração e do agronegócio.
Marielle se colocou no caminho da expansão territorial desse necrocapitalismo, por isso foi assassinada brutalmente! Mas essa engrenagem miliciana de produção de riqueza e captura do Estado que a matou não está só no Rio de Janeiro.
Assim como os Brazão precisaram recorrer ao Legislativo municipal para legitimar a apropriação privada de terra pública, assim o faz cotidianamente a bancada ruralista a cada nova necessidade de mudança na legislação para validar manobras e fraudes. Será que existe muita diferença entre PLC 174 de 2016 que matou Marielle e o Projeto de Lei (PL) 2.633 de 2020 (chamado “PL da Grilagem”, aprovada na Câmara e que se transformou em PL 510/2021 no Senado, prevendo a regularização fundiária das ocupações de áreas de domínio da União)? Será, ainda, que existe muita diferença entre a lei defendida por Chiquinho e a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no último dia 20 de março de 2024, do PL 364 de 2019, que altera o Código Florestal revogando toda a proteção à vegetação não florestal do Brasil, o que significa a abertura de mais de 40 milhões de hectares dos diversos biomas brasileiros ao mercado de terras?
Marielle foi morta pela metralhadora giratória de um necrocapitalismo que captura o Poder Legislativo. Essa metralhadora giratória, que matou Marielle, matou Nega Pataxó na Bahia, Dorothy Stang, Maria do Espírito Santo, Zé Cláudio, Dilma Ferreira Silva, Nilce Magalhães, Jane Júlia de Oliveira, Bruno Pereira, Dom Phillips, Chico Mendes e tantas outras pessoas que lutaram pela vida no Brasil e se colocaram no caminho desses movimentos de expansão de lucros seguidos de mortes.

Operação das Forças Armadas no Vale do Javari, durante as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. Foto: Edmar Barros/Amazônia Latitude.
Engana-se quem pensa que tanta violência é única e exclusivamente uma questão de apropriação privada da terra. Logicamente que a questão fundiária é central para todos esses negócios da morte funcionarem. No entanto, estamos falando de um capitalismo que pressupõe ganhos pelo domínio territorial. Ou seja, estamos diante de modos de organização da vida social subordinados a dinâmicas necroeconômicas.
A violência nesses negócios deixa de ser uma função de alguns no processo mais amplo de acumulação capitalista para compor o imaginário social e se enraizar nas práticas cotidianas de bairros dominados por milícias, além de pequenos municípios, vilas e comunidades hegemonizadas pelo garimpo — ou mesmo em pequenas e médias cidades hegemonizadas pelos negócios do agro na Amazônia, no Nordeste, no Centro Oeste…
Estamos diante de uma economia política da morte que não produz apenas riqueza. Ela produz subjetividades marcadas por um modo colonial e racista de tratamento das diferenças, por uma identidade proprietária patriarcal, por uma noção instrumental da natureza como negócio, por um modo antidemocrático de tomada de decisões, por uma lógica violenta e armamentista de defender a propriedade, por um modo de pensar a liberdade como manutenção de privilégios, por uma maneira patrimonialista de tratamento dos bens públicos e/ou coletivos e por uma forma de pensar a política pela produção de inimigos.
Assim como a expansão territorial das milícias carrega consigo modos de pensar, agir e se relacionar, a expansão territorial das commodities agrícolas e minerais no Brasil (soja, milho, ferro, cobre, petróleo e tantas outras) carrega consigo um gosto musical, um modo de comer, um modo de se vestir e se comportar e, logicamente, um modo de defender a propriedade, tão claramente expresso na difusão de clubes de tiro pelo interior do país.
A homogeneização das paisagens urbanas e agrárias pelas milícias (e seus tentáculos no mercado imobiliário) ou pelos negociantes de commodities (e seus tantos tentáculos em diversos circuitos econômicos e financeiros) também é a homogeneização de agendas culturais, de modos de comer, de comportamentos e de narrativas.
Não dizemos com isso que não há resistência. Há! Tanto há que o motivo desse texto é a resistência de uma mulher negra a tudo isso!
O que estamos querendo apontar é que a expansão desse necrocapitalismo é ainda a difusão e hegemonização de modos de organização da vida social — o que, logicamente, ganha contornos eleitorais. Não sem razão, os municípios hegemonizados por essas relações deram, em 2018 e em 2022, vitória eleitoral a Bolsonaro, como bem demonstramos em nosso Geografias do Bolsonarismo: entre a expansão das commodities, do negacionismo e da fé evangélica no Brasil (Amazônia Latitude Press, 2023).
Esse necrocapitalismo atravessa o desespero da pobreza, produz subjetividades e ganha legitimidade eleitoral. É desse esgoto que saem Brazões e Bolsonaros, e é de onde saem os representantes das bancadas ruralista, da bala, da bíblia e dos bancos (tão intimamente ligadas)!
Um representante do Legislativo, um representante de uma entidade fiscalizadora das contas públicas e um representante da polícia se juntam para matar uma mulher negra, vereadora do Rio de Janeiro, que lutou com todas as suas forças contra a expansão territorial das milícias. Um Estado capturado por um necrocapitalismo que, assim, funciona para matar. Esse é o retrato triste, mas fiel, para o que convencionamos chamar de Brasil.
Não é possível que continuemos aceitando e escolhendo nos “des-envolver” (tirar do envolvimento e destruir a autonomia que cada povo construiu com seu território, como nos ensinaria o mestre Carlos Walter Porto-Gonçalves) por negócios que violentam e matam a nossa diversidade de vida e que, nesse processo, vão apodrecendo aos poucos instituições conquistadas nas lutas pela redemocratização do Brasil. O assassinato político de Marielle expõe as relações que historicamente subordinaram nossas instituições, pretensamente públicas, a interesses privados, tornando impossível o exercício real da democracia em nosso país.
Mas ainda há muitas Marielles vivas em luta contra esse necrocapitalismo. Das periferias do Rio às terras indígenas na Amazônia, suas vozes ecoam nos dizendo que a expansão desses negócios, das milícias ao agro, não apenas matam quem se coloca em seus caminhos, como também destroem relações que ainda conseguem fertilizar a vida.
Restituir ao centro do debate essas vozes em “re-existência” é conseguir nos aproximar da vida em meio a relações que funcionam pela morte. Afinal, não haverá democracia possível nesse país enquanto quem defende a vida continuar morrendo pelas balas daqueles que tomam o Estado para continuar seus negócios da morte.
Bruno Malheiro é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Autor de Geografias do Bolsonarismo: entre a expansão das commodities, do negacionismo e da fé evangélica no Brasil (Amazônia Latitude Press, 2023), coautor de Horizontes Amazônicos: para repensar o Brasil e o mundo (Expressão Popular/Rosa Luxemburgo, 2021) e corroteirista do filme Pisar Suavemente na Terra (Amazônia Latitude Filmes, 2022).
Colunistas têm liberdade para expressar opiniões pessoais. Este texto não reflete, necessariamente, o posicionamento da Amazônia Latitude.
Revisão: Isabella Galante & Filipe Andretta
Arte e montagem do site: Fabrício Vinhas
Direção: Marcos Colón