“Amazônia, sua linda!”, afirma Dom Philips mais uma vez
Livro-testamento de jornalista assassinado expõe a tragédia da Amazônia, da qual ele mesmo acabou se tornando um dos mais dolorosos testemunhos, mas também sua maravilhosa singularidade
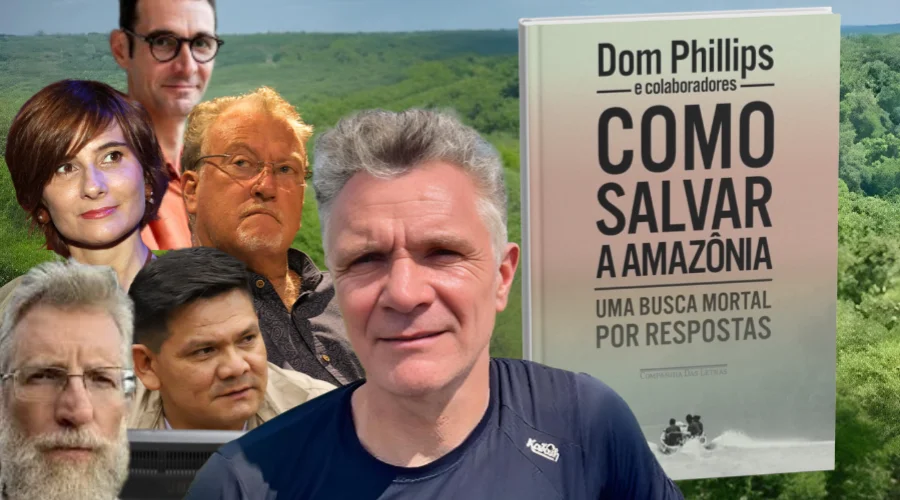

Autores de “Como Salvar a Amazônia”. Fotos: Reprodução Twitter/@domphillips; Reprodução LinkedIn/Tom Phillips; Julián Roldán/FNPI; Fronteiras do Pensamento/Wikimedia Commons; Canon Gate (via); Rômulo Serpa/Agência CNJ; Capa: Alceu Chiesorin Nunes/Companhia das Letras.
Dom Phillips estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. O Brasil, entre 2017 e 2022, vivia a apoteose dos discursos negacionistas (de negação da lei, da ciência, da política, do meio ambiente, das regras de civilidade, do pensamento coletivista). O irracionalismo era moeda corrente. Após uma década vivendo no Brasil, o jornalista britânico aprendera a conhecer intimamente os brasileiros, seus paradoxos, contradições, esquemas, falsificações ideológicas e, ao mesmo tempo, sua imensa riqueza humana, ambiental e cultural. Era como uma imersão num hiper-treinamento, um media training fora de portas para escrever a reportagem mais vital e importante de uma vida – a despeito do cenário sombrio que assomava à sua frente.
Tendo se nutrido intelectualmente nos anos 1990 pelo embate entre o jungle, o drum’n’bass e a house progressiva em clubes de Londres como Ministry of Sound e The Orb, o jornalista britânico mergulhou fundo no seu novo objeto de reportagem, o Brasil e a Amazônia, gastando dias a comer cérebro de macaco e churrasco de queixada, atravessando rios infestados de jacarés, dormindo entre jararacas e garimpando vestígios de existência de populações indígenas isoladas na Amazônia. Buscava diminuir o fundo descompasso entre a visão dos nativos e sua condição de estrangeiro, algo que lhe permitiria compreender melhor o que outros só fantasiavam. “Era como se eu corresse às cegas por uma floresta unidimensional, em preto e branco, enquanto ele andava por um universo colorido repleto de informações fluindo em cascata”, observou Philips, a respeito do seu guia indígena, Alcino.
Essa humildade desconcertante, somada a uma argúcia de repórter nato, de profundo conhecedor da natureza humana, permitiu a Dom Phillips, no aguardado livro póstumo Como Salvar a Amazônia – Uma Busca Mortal por Respostas (Companhia das Letras, 2025), desenvolver sua apreciação amazônida longe dos preconceitos, das simplificações e da ingenuidade típicas dos estrangeiros e também sem a autoindulgência, a presunção e o tropical centrismo característicos dos brasileiros.
O livro foi concebido, como sabemos, com um acabamento posterior ao brutal assassinato do autor, Dom Phillips, e seu anfitrião brasileiro Bruno Pereira no dia 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, na Amazônia, por pistoleiros a mando de um traficante. Quando foi morto, o livro ainda não tinha chegado à metade – Dom tinha concluído os quatro primeiros capítulos e feito anotações e apontamentos para os seis seguintes. Os capítulos inacabados foram completados com artigos, reportagens e investigações jornalísticas de colegas e amigos do ramo: o premiado Jon Lee Anderson, Jonathan Watts, Andrew Fishman, Stuart Grudgings, Eliane Brum, Tom Phillips e um posfácio de Helena Palmquist e Beto Marubo.
Nos capítulos que deixou já concluídos, nota-se que Dom Phillips tinha uma ambição grande: ele queria dar conta de todas as facetas da questão ambiental no Norte do Brasil, onde está a grande floresta tropical. Esses textos tratam da política corrompida, da pecuária predatória, dos negócios fora da lei e da urbanização desenfreada. Mas a grande qualidade de um bom repórter, e esse era o caso em questão, é saber ouvir – mesmo quando os argumentos pareciam puro dogma. “O ouro vem da natureza de Deus. E se precisamos dele, para onde temos de ir? Onde ele está”, dizia uma mensagem de um grupo de garimpeiros que organizaram milícias para atirar em fiscais e tentar derrubar helicópteros do Ibama.
Nesses capítulos iniciais, Phillips usa toda a sua larga experiência no ecossistema político-ambiental do Brasil para equacionar suas dúvidas, escorando-se em fatos que vão desde a morte acidental de Eduardo Campos, candidado à presidência, até os desastres ambientais de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, seus batismos de reportagem no Brasil para veículos como os britânicos The Guardian e Financial Times e o norte-americano The Washington Post. Passando por regiões conflagradas, como São Félix do Xingu (no qual é comum pistoleiros procurarem lavradores para expropriar sua terra com uma oferta: “Você me vende ou tua viúva vai me vender”), Phillips ouve tanto o mega fazendeiro quanto os retirantes nordestinos em busca de oportunidades. Isso, além de uma pesquisa exaustiva nas estatísticas e dados (“Agora, 16% da Amazônia brasileira é ocupada pela pecuária e 42% de todo o gado brasileiro pasta nos estados amazônicos”), faz do livro de Dom Phillips uma contribuição inestimável para a compreensão da tragédia nacional.
Nos capítulos que ele deixou inacabados, havia apontamentos que jorravam como nascentes de pequenas hipóteses-rios, teses encaminhando o repórter a caminhos possíveis de investigação. Por exemplo: uma experiência entre o povo indígena Awá, na qual deixou-se untar na cabeça com uma espuma de cupins que (na rotina indígena) ajudaria a aguçar os sentidos da caça, fez com que ele se desse conta que o conhecimento sobre biofármacos da selva ainda era totalmente incipiente. A substância na pele causou em Dom um alargamento imenso de sua percepção e, após essa experiência, notou que era algo da qual não se tinha literatura alguma a respeito.
Os jornalistas que foram incumbidos de finalizar o livro de Dom Phillips não se contentaram em escrever apenas artigos complementares. Eles realmente pegaram o fio da meada a partir de onde Dom tinha parado (jornalista da velha guarda, anotava tudo à mão). Jon Lee veio ao Acre, acompanhado do filho, Maximo. Stuart Grudgings, que vive na Costa Rica, ocupou-se do capítulo que aborda aquele País. Eliane Brum já vive no meio da Amazônia. O editor de Meio Ambiente Global do Guardian, Jonathan Watts, instalou-se na floresta para editar. Andrew Fishman, que escreveu sobre os interesses internacionais envolvidos, é do Intercept Brasil.
Por conta de um impulso de mapear a genealogia dos problemas, Dom Philips recupera, em seu texto, fatos que em geral a crônica ambiental brasileira tende a ignorar, pela banalização da brutalidade. “Dar comida envenenada de presente era apenas uma das muitas técnicas de matar comunidades indígenas”, ele lembra, a certa altura. Também chega a conclusões que podem nos parecer óbvias, mas não são. “As pessoas que enriquecem explorando e destruindo a Amazônia têm uma coisa em comum: poucas vêm de comunidades indígenas amazônicas”.
Cuidadoso, Phillips protege fontes quando isso é necessário (“Não menciono os nomes para evitar retaliações contra eles”) e, experiente, busca expor entrevistados à contradição.
Ele, evidentemente, diferencia as práticas de política ambiental de governos progressistas e governos de extrema direita. Mas não poupa a esquerda. Acentua a responsabilidade do pensamento desenvolvimentista da ex-presidenta Dilma Rousseff na construção da Usina de Belo Monte e o impacto disso na meta de desmatamento zero dos governos petistas.
Há insights cuja abrangência Dom Philips apenas roça – faltou ainda aprofundamento, por exemplo, para explicitar a relação entre a cultura da música sertaneja (e seus expoentes milionários) e o que ele chama de “cultura caubói”. Mas ele identifica en passant essa simbiose e sua ambição de forjar um “modo de ser dominante” no espectro da cultura sertaneja. Ele busca a tese do antropólogo Jeffrey Hoelle para demonstrar como a música sertaneja está a serviço de um status quo dominante. “Ela oferece uma voz de oposição à preservação ambiental, vendo tais esforços de conservação como uma afronta à autossuficiência que é central para a identidade de muitos produtores rurais, especialmente os migrantes que vieram para a Amazônia para construir o futuro deles”, escreve Hoelle.
A ação desastrosa do governo Bolsonaro em relação à Amazônia é esmiuçada de um privilegiado posto de observação por Dom Phillips. Ele registra a ardilosa perseguição aos fiscais e defensores da floresta, detectando a origem do cerco a partir do esquecido caso da multa aplicada por um fiscal do Ibama, Paulo Morelli, a um pescador que pescava em área ilegal em 2012, em Angra dos Reis. O homem que pescava era um deputado do baixo clero de reputação violenta chamado Jair Bolsonaro. Multado pela ilegalidade, Bolsonaro passou a perseguir o fiscal (e o ambientalismo, por extensão), até conseguir transferi-lo, já então eleito presidente, para os cuidados de um avião de sobrevoos ambientais.
O livro póstumo de Dom Phillips é um documento raro. Além de tudo, há ali um escritor que trata finamente a palavra escrita, que demonstra um refinado background de cronista. “Irreverente e lacônico, com cinquenta e tantos anos, um senso de humor confuso e amargo e uma gargalhada de fumante”, descreve o autor. É um livro raro porque se debruça sobre a questão ambiental brasileira com os olhos de um neófito, um estrangeiro que busca entender e decifrar a miríade de conflitos existentes a partir do zero absoluto, da compreensão absolutamente despoluída, mas que não se contenta com a resposta do lugar-comum. É precisamente esse deslocamento entre aquilo que formou Dom Philips, sua bagagem cultural e aberta ao mundo, e aquilo que ele procurou compreender no País que adotou como casa, aquela “Amazônia, sua linda!”, que torna o seu livro um belo legado.
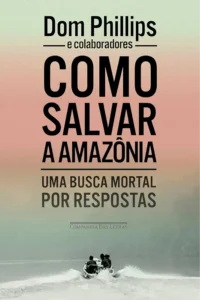 Como salvar a Amazônia: Uma busca mortal por respostas
Como salvar a Amazônia: Uma busca mortal por respostas
Autores: Dom Phillips e colaboradores
Ano: 2025
Páginas: 384
Idioma: Português
Editora: Companhia das Letras
Compre aqui.
Texto: Jotabê Medeiros
Revisão e edição: Juliana Carvalho
Montagem da página: Alice Palmeira
Direção: Marcos Colón

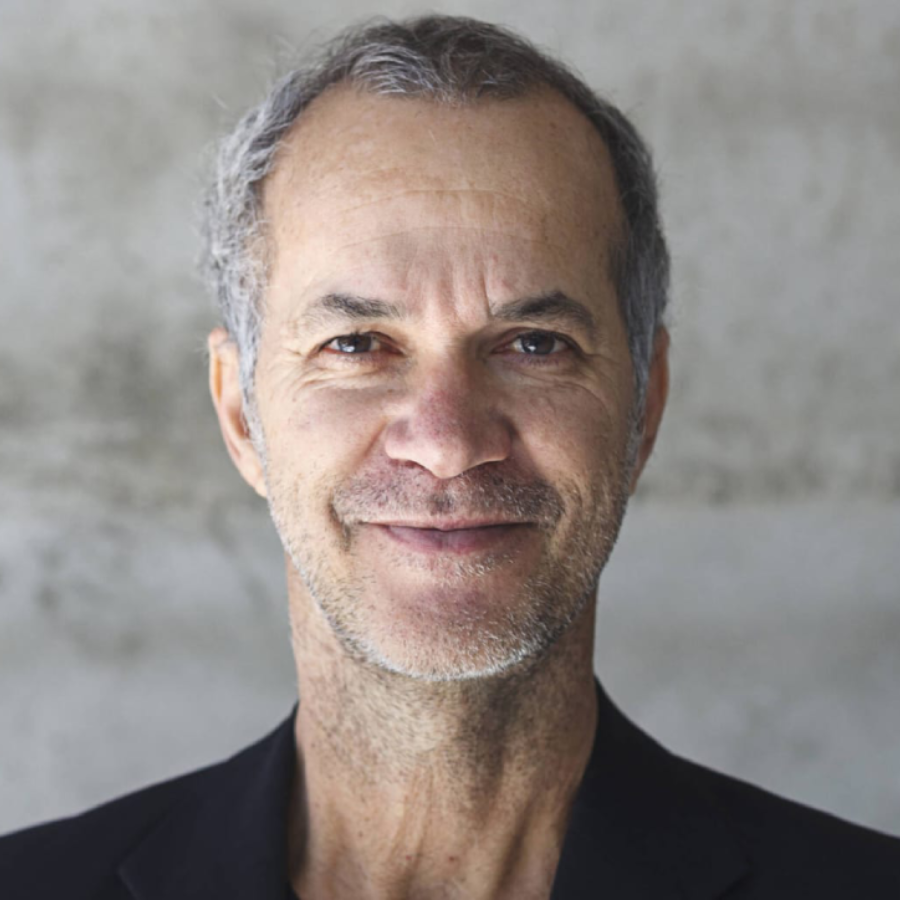 Jotabê Medeiros
Jotabê Medeiros


