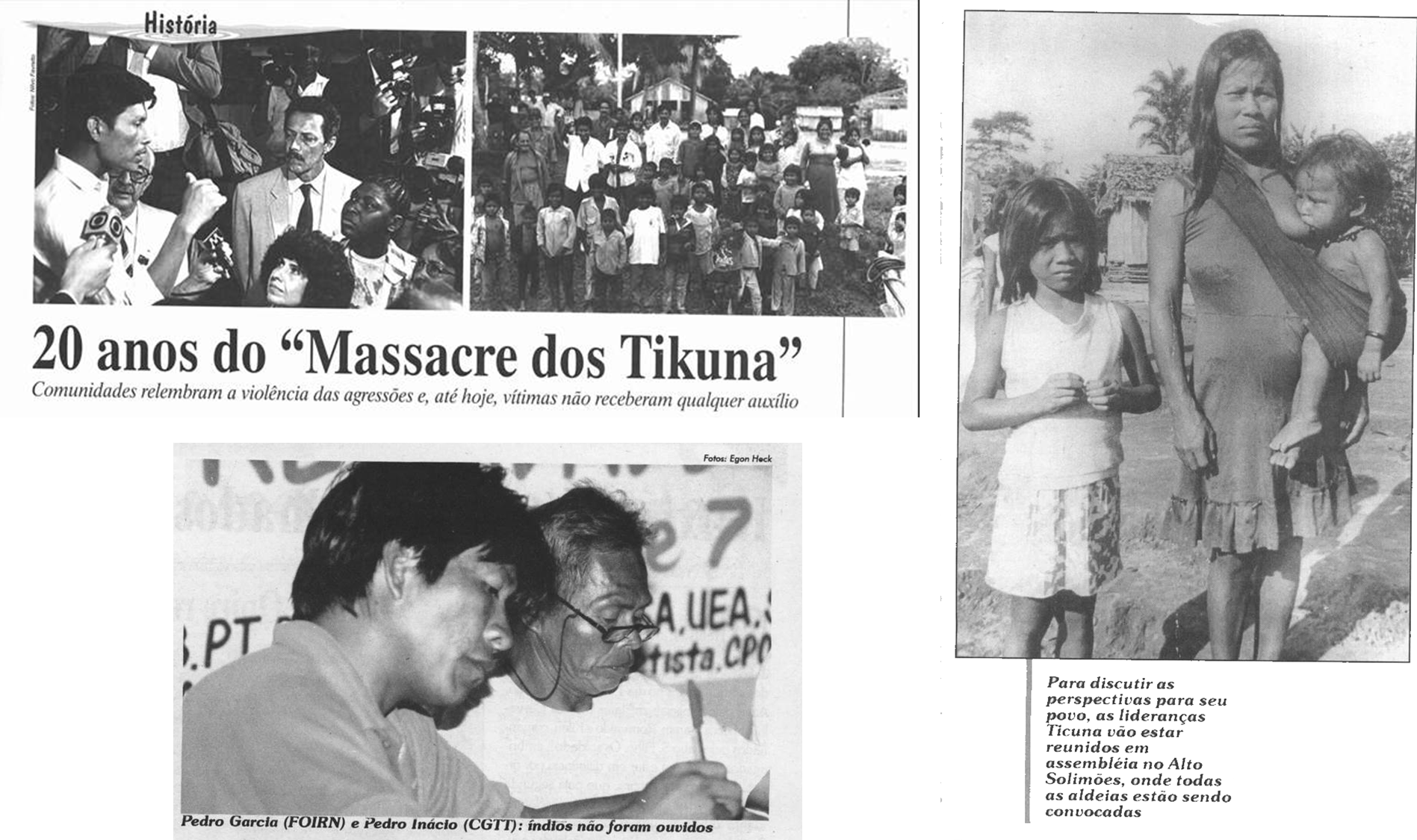Na sombra do caimbé: venezuelanos enfrentam altas temperaturas em Roraima
As mudanças climáticas afetam diretamente os migrantes venezuelanos, mas eles pouco sabem sobre a COP30


A maioria dos abrigados não ficava nas barracas várias horas do dia por ser extremamente desconfortável.
Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
O dia geralmente começa com temperaturas entre 29ºC e 30ºC no extremo Norte do país, mais precisamente em Roraima (RR), estado localizado quase que totalmente acima da linha do Equador. Com o avançar das horas, a família de David Malave, de 27 anos, é forçada a uma “dança” diária em torno da árvore mais emblemática do lavrado: o caimbé, cuja estrutura robusta o permite renascer após as frequentes queimadas. Em volta da simplicidade da natureza, David agradece aos céus.
O sol daqui parece ser mais forte que em outras partes do mundo, impondo à família o cotidiano de mover mesa e cadeiras ao redor do caimbé. Como quem clama por uma trégua, eles acompanham a sombra curta que se desloca lentamente. Mesmo assim, é difícil obter o alívio buscado. A rede da filha mais nova, de nove meses, balança amarrada a um dos galhos, enquanto a mãe e a avó se revezam embalando para que o sono da criança não seja interrompido pela alta temperatura.
Viver no que chamam de ‘casa’, cedida a David por um tio, é impossível durante o dia. O barraco, erguido com metalon, lona, pedaços de forro de PVC, tapume e telhas, é um pequeno forno: o ar não circula, fica preso, denso. Com apenas uma porta e nenhuma janela, a família tenta permanecer, mas logo se rende ao quintal poeirento, às margens da rodovia estadual RR-207, a quase 16 km da capital Boa Vista, em busca do pouco de sombra restante.
Na tentativa de amenizar o calor, David liga a bomba do poço e molha as paredes de PVC e o telhado baixo. É uma medida paliativa; o sol, no entanto, seca tudo rapidamente. A vida dele, da esposa, do filho, da filha, e da mãe foi empurrada para esse terreno na Vila Nova, município de Cantá, em Roraima, depois de deixar a cidade de El Tigre, na Venezuela. Fugiram da fome e da crise, mas encontraram novos inimigos. Um deles, o tempo extremo que se tornou rotina e aumenta a cada ano na fronteira amazônica.

Na tentativa de amenizar o calor, David liga a bomba do poço e molha as paredes de PVC e o telhado baixo. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
“Lá [em El Tigre] há muitos rios, muitas montanhas. É mais fresco. A verdade é que aqui [Boa Vista], sob o sol, não conseguimos andar”, compara David, referindo-se à cidade natal e ao local onde tentam recomeçar.
Embora a temperatura máxima em El Tigre seja semelhante à de Roraima, em torno de 30ºC, a proximidade com o mar e as condições de moradia (uma casa de alvenaria) diminuem a sensação térmica.
O calor da Amazônia, para eles, é como um segundo exílio. A geladeira não resiste, descongela sozinha antes mesmo de gelar a água. O menino, de dois anos, pede o tempo todo para brincar no igarapé, como se pressentisse que só na água a “febre” do corpo esfria.
O sonho de David é erguer uma casa de tijolo no terreno que conseguiu comprar por 500 reais, ainda sem documentos, em uma outra área irregular próxima da que vive atualmente. Quer rebocar as paredes, colocar ar-condicionado, instalar manta térmica, como aprendeu observando as casas brasileiras. “Assim a gente pode viver melhor”, idealiza.
Na Venezuela, a família vivia em uma casa de alvenaria com três quartos, sala, cozinha e banheiro – um luxo perto do que têm hoje. Aqui, moram em um barraco onde a chuva pinga pelas telhas e o sol atravessa as paredes finas. “Lá, a gente tinha casa, mas não tinha comida. Aqui, a gente tem trabalho, mas a casa é muito quente”, resume David. A água é de poço e o banheiro é a região de mata há alguns metros dali.
A Vila Nova cresce rapidamente, e as dezenas de histórias se assemelham, assim como os barracos que em alguns pontos se emendam em uma extensão de cerca de 500 metros.

A rede da filha mais nova, de nove meses, balança amarrada a um dos galhos, enquanto a mãe e a avó se revezam embalando para que o sono da criança não seja interrompido pela alta temperatura. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
O calor adoece!
Há quatro semanas Maria Martinez, de 34 anos, chegou com o marido, de 58 anos, e a filha, de dois anos, à vila. A estrutura da casa da família é ainda mais precária [foto] que a de David. Eles vivem praticamente ao relento. Mas com esperança de conseguir erguer todas as paredes. “Meu sonho é ter uma casa, que tenha conforto”, planeja a mais nova moradora da comunidade.
A pequena Arlinys exibe o pescoço e a testa com pequenas bolhas vermelhas. “É alergia do calor!”, explica a mãe Maria Martinez, com o limitado português. Ela e a menina pegam água para beber e higiene pessoal no poço do vizinho. Uma situação de extrema vulnerabilidade para mulheres, sendo uma delas, uma criança de dois anos. As duas passam o dia esperando o patriarca com resto de materiais para melhorar a estrutura do barraco e comida.
Famílias que vivem em barracos improvisados, sem ventilação, água potável ou saneamento, estão entre as mais expostas a riscos fatais, é o que apontam os especialistas. A médica Mayara Floss, de 35 anos, tem se dedicado a estudar os impactos da crise climática na saúde. Doutora em Patologia pela Universidade de São Paulo (USP) e integrante de grupos nacionais e internacionais de Saúde Planetária, ela explica que “as ondas de calor potencializam doenças já existentes, como problemas cardíacos e respiratórios, e atingem de forma mais grave crianças, gestantes e idosos, que têm menos capacidade de adaptação térmica”.
A falta de água adequada, em comunidades com a da Vila Nova, pode levar à desidratação e a complicações renais, enquanto a ausência de ventilação aumenta o risco de exaustão ou insolação, situações que podem ser mortais se não forem tratadas rapidamente, segundo a médica.
Para Mayara, a discussão sobre mudanças climáticas não pode ser restrita a eventos como a COP 30. “É uma urgência imediata. Estamos vivendo perdas de biodiversidade massivas, secas extremas na Amazônia e enchentes no Sul do Brasil. Essa instabilidade do clima coloca em risco a própria existência humana”, contextualiza.

A pequena Arlinys exibe o pescoço e a testa com pequenas bolhas vermelhas. “É alergia do calor!”, explica a mãe Maria Martinez, com o limitado português. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
Racismo ambiental
O drama de David Malave, Maria Martinez e outras famílias de migrantes que vivem na Vila Nova ou outras comunidades com características semelhantes em Roraima, não são casos isolados do Estado. Ele revela um cenário em que milhões de brasileiros e estrangeiros, sobretudo os mais pobres, enfrentam o calor extremo sem acesso à condições mínimas de proteção, um claro reflexo do racismo ambiental.
Para quem estuda e acompanha o aumento da temperatura não tem como deixar de lamentar. É o que observa a ecóloga Ima Vieira, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi.
“É lamentável que em pleno século XXI, em tempos de emergência climática, tenhamos famílias inteiras, incluindo crianças e idosos, obrigadas a viver em condições tão precárias, expostas ao calor extremo que só tende a piorar. Isso deveria estar nos debates da COP 30: como proteger quem mais sofre com as mudanças do clima”.
Racismo ambiental é o conceito para as histórias narradas. Trata sobre pessoas negras, indígenas, migrantes e populações periféricas como as que mais sofrem com enchentes, deslizamentos, poluição do ar e calor extremo, apesar de não serem as principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa. “Há um descompasso: quem menos causa a crise climática é quem mais paga o preço por ela”, resume a médica Mayara Floss.
Os migrantes que vivem em abrigos e ocupações espontâneas enfrentam os mesmos problemas da comunidade Vila Nova. Os abrigados que recebem apoio da ONU dormem em casinhas de poliuretano, que funciona bem como isolante térmico, mas em regiões tropicais como Roraima pode acabar retendo o calor, deixando o interior da barraca abafado e desconfortável. Além disso, por não ser um material respirável, ele dificulta a circulação de ar, favorecendo o acúmulo de umidade e aumentando a sensação de calor excessivo.

O barraco, erguido com metalon, lona, pedaços de forro de PVC, tapume e telhas, é um pequeno forno. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
Sewbert Rodrigues Jaty, biólogo, especialista em Educação Ambiental, mestre em Ecologia, diz que o material das barracas no clima do Estado aumenta a “proliferação de mofo e fungos, prejudicando a saúde respiratória dos ocupantes”.
As jornalistas Érica Figueredo e Ráyra Fernandes acompanharam a migração venezuelana de perto. Elas eram repórteres na afiliada da Globo em Roraima e foram responsáveis por inúmeras matérias em rede nacional. As duas são unânimes em dizer que as barracas foram uma solução para tirar as famílias das ruas. “De dia sob o sol escaldante, nos períodos de chuva, sem nenhuma proteção e dignidade”, relembra Érica.
“Na época, fui informada que as barracas montadas nos abrigos seguiam um padrão internacional adotado pela ONU. Minha impressão era que o formato lembrava uma casa, mas na prática levei tempo pra entender que elas não ofereciam o conforto térmico de um lar. Com as altas temperaturas de Roraima, elas tornavam-se verdadeiras estufas”, explica a jornalista.
Érica chegou a fazer duas entrevistas dentro das “carpas”, como eram chamadas as ocupações. “Tivemos grandes dificuldades para permanecer dentro delas. Devido ao intenso calor, as entrevistadas precisaram secar o rosto e o corpo várias vezes para seguir as gravações. Ao final, percebemos que a maioria dos abrigados não ficava nas barracas várias horas do dia por ser extremamente desconfortável. Apesar de todo desconforto, ter uma vaga ali era a chance de não estar nas ruas da cidade”.
Ráyra não esquece a mudança de realidade no Estado e como enfrentar o calor foi marcante. “Nessa época, muitos migrantes venezuelanos tentavam achar formas de lidar com as altas temperaturas. Uma das soluções era usar os barracões e redes montadas dentro dos abrigos durante o dia. O chão de brita até ajudava um pouco por ser mais firme, mas também esquentava bastante. As crianças e os idosos eram os que mais sofriam com isso”.
Fora do vídeo, Érica não acompanha mais de perto a rotina dos migrantes, mas se preocupa. “Não sei se as acomodações sofreram adaptações para aliviar as temperaturas. Com as mudanças climáticas, pensar em alternativas para driblar o calor não será uma sugestão apenas, mas um caminho inevitável”.

Venezuelanos fugiram da fome e da crise, mas encontraram novos inimigos: o calor extremo e moradias precárias. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
Migração no extremo da Amazônia
Marcia Oliveira é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia e pesquisa migrações na região. Em publicação recente, a docente da Universidade Federal de Roraima, informa que a crise climática se consolida como um dos maiores motores de deslocamento humano no planeta. A educadora ressalta que o impacto é ainda mais intenso para os indígenas.
Segundo ela, na última década, milhares de migrantes começaram a circular pelos países da Amazônia por causa das crises econômicas e climáticas. “Depois de perambular nos limites do próprio país buscando condições de sobrevivência, grupos como os Warao, Cariña e Eñepá, deixaram a Venezuela onde viviam nas regiões de savanas, florestas e rios, e praticavam a caça, a pesca e a agricultura para a sua subsistência, cruzaram as fronteiras e chegaram ao Brasil. Se calcula que mais de cinco mil warao vivem espalhados em praticamente todos os estados do Brasil em situação de sobrevivência precária”.
Em Roraima, conforme monitoramento, são 5.651 pessoas abrigadas (entre indígenas e não indígenas), até este dia 08 de setembro. Mas o dado é variável. O acompanhamento pode ser feito pela internet. Devido à migração, na região Norte é o Estado que tem o maior número de pessoas em situação de rua, de acordo com o relatório do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Em dezembro de 2022, havia 1.714 pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único.
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) monitora a quantidade de pessoas que vivem em ocupações espontâneas em Boa Vista. Vila Nova não se encaixa nesses critérios e, por isso, “não está entre as localidades mapeadas pela organização”. O relatório de julho de 2025 aponta 318 pessoas em espaços públicos e privados.

Se calcula que mais de cinco mil warao vivem espalhados em praticamente todos os estados do Brasil em situação de sobrevivência precária. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
O que é a tal COP?
Perguntado sobre a COP 30, a Conferência Climática que em breve vai concentrar os olhares do mundo para a Amazônia, David afirma que nunca ouviu falar. “Não sei o que é isso”, diz com expressão de curioso, esperando uma explicação. A resposta é a mesma dos seus vizinhos, dois irmãos que moram do lado, mas preferem não se identificar com medo de serem despejados pelas autoridades. Mais à frente, Maria Martinez também não esconde que não sabe o que é a COP: “No sé!”, responde.
A COP 30, que será realizada em 2025 em Belém, é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um dos maiores encontros globais para discutir o futuro do planeta. E o que será abordado neste evento impacta diretamente a vida das pessoas que vivem esse racismo ambiental.
A Conferência reunirá governos, cientistas, povos indígenas, organizações sociais e empresas em torno de um objetivo central: frear o aquecimento global e encontrar caminhos para uma transição justa. Sua importância é dupla: de um lado, porque decisões tomadas ali podem definir metas e compromissos para reduzir emissões e preservar florestas; de outro, porque acontece no coração da Amazônia, região vital para o equilíbrio climático do mundo.
Para quem vive em Belém, a COP 30 também é um espelho das contradições locais, onde discursos internacionais sobre sustentabilidade convivem com a falta de saneamento básico e o descaso histórico com as populações da periferia, como tantas outras semelhantes à Vila Nova, em Roraima.
Para a pesquisadora em educomunicação, Sheneville Araújo, uma das razões pelas quais migrantes não têm acesso a informações sobre a COP é o modo como o jornalismo tem tratado o tema. “O jornalismo, quando se limita apenas a noticiar o factual, deixa de cumprir um papel essencial, que é o de contribuir para que a sociedade compreenda problemas complexos e possa agir diante deles”, afirma.
A falta de informação adequada à essas populações os coloca ainda mais em perigo, porque não “traduzem os impactos ambientais em conhecimento útil”, o que inviabiliza que “busquem políticas públicas que as protejam”, acrescenta a jornalista. Esse gargalo não se restringe apenas à cobertura da COP 30, mas se estende ao jornalismo ambiental em geral.
“Sem essa dimensão educativa, a informação não chega de forma clara às comunidades que mais sofrem com os efeitos da crise climática, como no caso de populações que vivem em áreas de conflito ou de impacto direto de empreendimentos”, conclui Sheneville.

A Vila Nova cresce rapidamente, e as dezenas de histórias se assemelham, assim como os barracos que em alguns pontos se emendam em uma extensão de cerca de 500 metros. Foto: Felipe Medeiros/Amazônia Latitude.
Morada estrangeira
David chegou primeiro, sozinho. Cruzou a Venezuela pedindo carona, de caminhão em caminhão, até alcançar a fronteira ainda do lado venezuelano, na cidade de Santa Elena de Uairén. Depois vieram os ônibus quebrados, a ajuda improvisada de desconhecidos, o Uber pago por estranhos. “Foi forte pra mim vir pra cá”, relata. Em Boa Vista, foi recebido por um tio e começou a trabalhar como ajudante de roça e de construção, até juntar dinheiro para trazer a mulher, a mãe, o filho mais velho e a mais nova nasceu no Brasil.
Em Boa Vista, a chefe do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Sara Angheleddu, lembra que a agência mantém postos de atendimento em Roraima, onde famílias em situação de vulnerabilidade podem buscar acolhimento emergencial e orientações sobre documentação, saúde e integração. “Até o momento, não recebemos pedidos formais de apoio das famílias de Vila Nova, nem das autoridades locais”, disse, ressaltando que o ACNUR segue à disposição para construir soluções conjuntas.
Ela explica que os registros oficiais da agência se referem apenas às pessoas que procuram os Postos de Triagem ou acessam o abrigamento da Operação Acolhida. Nessas estruturas, as necessidades de cada família são avaliadas individualmente. “É ali que elas recebem informações sobre acesso a direitos, serviços públicos e projetos de soluções duradouras oferecidos pela sociedade civil”, afirma.
O governo de Roraima não tem conhecimento formal sobre a área onde estão os barracos na chamada Vila Nova, mas informou em nota que equipes farão uma visita ao local “para compreender as necessidades e a situação socioeconômica dos envolvidos”. Há uma secretaria, a do Trabalho e Bem-Estar Social, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre elas os migrantes.
O último Censo demográfico do IBGE revelou uma mudança histórica no perfil migratório do Brasil. Em 2022, cerca de 1 milhão de estrangeiros ou brasileiros naturalizados viviam no país. A maioria da Venezuela: 271, 5 mil pessoas. O número é quase 100 vezes maior do que o registrado em 2010, quando eram 2,9 mil. A presença de venezuelanos superou a quantidade de portugueses, antes a maior comunidade estrangeira no Brasil.
Texto: Felipe Medeiros
Colaboração: Vitória Moura
Revisão e edição: Juliana Carvalho
Montagem da página: Alice Palmeira
Direção: Marcos Colón