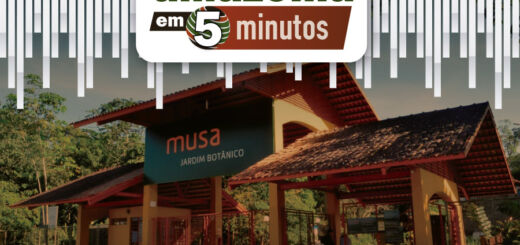Comida Cabocla: O almoço do Círio, a cosmologia da mandioca e o banquete sacrificial em Belém
Na estreia da coluna Comida Cabocla, Miguel Picanço mostra como a fé amazônica se serve à mesa do almoço do Círio
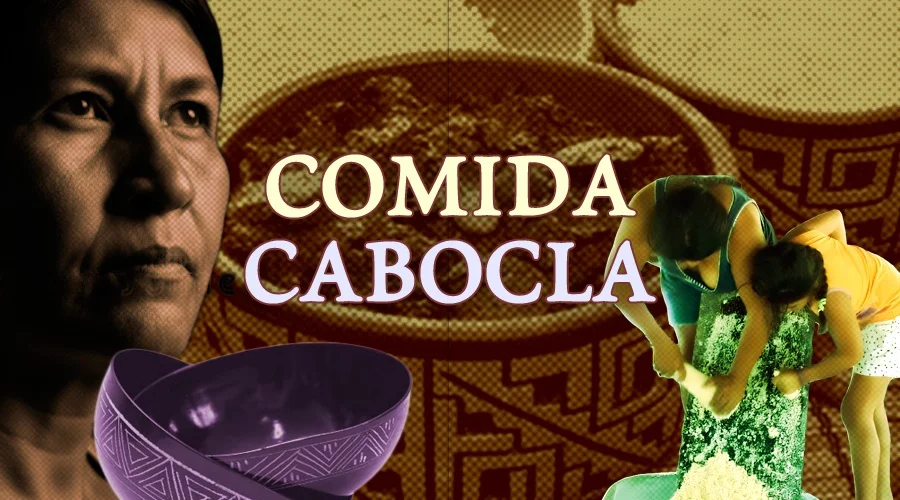
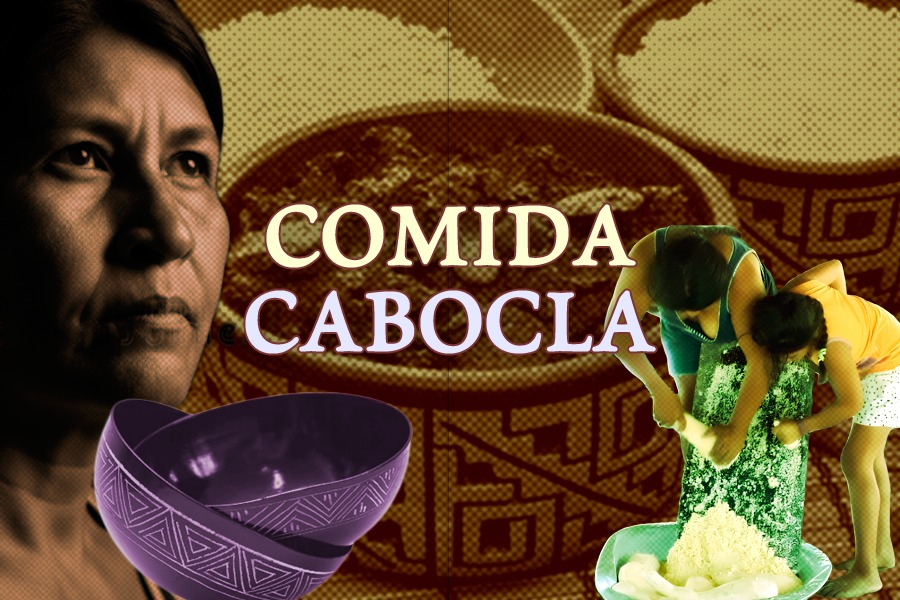
Comida Cabocla, assinada por Miguel Picanço, é a nova coluna da Revista Amazônia Latitude. Arte: Fabrício Vinhas.
Na Amazônia, a fé tem cheiro, cor e gosto. Ela é servida em cuias, compartilhada em panelas, repartida em gestos. No período do Círio de Nazaré, que este ano ocorre no próximo domingo, dia 12 de outubro, a fé não está apenas nas ruas de Belém, nas cordas da berlinda ou nas rezas que se elevam aos céus – ela está também nas cozinhas, nas mãos das mulheres, no fogo que não se apaga, no vapor espesso que sobe das panelas de maniçoba e de pato no tucupi.
Esses alimentos, nascidos da mandioca e do tempo, são dádivas e metáforas. São corpos simbólicos que condensam o que há de mais profundo na cultura amazônica: o poder de transformar o veneno em sustento, o perigo em bênção, a natureza em fé. Neles, o fogo é mais que instrumento – é elemento de purificação, é sopro de divindade.
O sagrado à mesa
O Círio, como lembra Maués (1990), é “um sistema simbólico total”, onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçam. Nesse contexto, comer é participar de um rito de comunhão que envolve a cidade inteira. As cozinhas se tornam templos domésticos, e cada panela fervendo é uma pequena catedral, onde o sagrado se faz alimento e o alimento se faz oferenda.
Mais do que uma festa religiosa, o Círio é uma cosmogonia viva. Ele recria, ano após ano, as relações de pertencimento e reciprocidade que sustentam o modo amazônida e paraense de existir, ao menos dos católicos. Nele, o corpo se move em fé e fome, o alimento é promessa cumprida, e a partilha é a forma mais alta de oração.
É nesse território de fervor e sabor que a maniçoba e o pato no tucupi ganham voz e alma. Através deles, a Amazônia fala de si mesma, da sua memória vegetal, da sua devoção encarnada, da sua teologia da terra e do fogo. Porque, aqui, o milagre é verde, amarelo e feito à mão.

No Círio, cada panela fervendo é uma pequena catedral, onde o sagrado se faz alimento e o alimento se faz oferenda. Foto: Miguel Picanço/Acervo Pessoal.
Maniçoba: o processo ritual de transformação
Afinal, nas cozinhas paraenses, a maniçoba não é apenas alimento; é processo, ritual e encontro entre a vida e o sagrado. Para ser própria para o consumo, a maniva, que contém ácido cianídrico, precisa de sete dias de fervura intensa, período em que a dona de casa se põe em diálogo diário com a folha, o fogo e o tempo. Nesse intervalo, as carnes – charque, costela, bacon, pé e rabo de porco, chouriço e paio – vão sendo incorporadas, refogadas e temperadas com folhas de louro, chicória, alho, cebola, cominho e cheiro-verde, até que a iguaria atinja a densidade e o sabor que a tornam sublime.
Cada cozinheira imprime seu gesto e seu tempo. Dona Socorro Maia, católica, reside em Ananindeua. Ela inicia o ritual uma semana antes do Círio, refogando o toucinho com alho e louro, mantendo o fogo aceso das sete da manhã às dez da noite, até o momento em que, no sábado anterior à procissão, todos os ingredientes se juntam à maniva e à fervura. Dona Fátima Barreirinha, por sua vez, utiliza azeite de oliva para refogar a maniva e deixa a panela no fogo por sete dias, assando as carnes antes de incorporá-las, reforçando a ideia de que quanto mais longa a cocção, mais escura e saborosa a maniçoba. Dona Eleoniza e dona Ana Rizete apresentam variantes igualmente cuidadosas, ora alterando o tempo, ora ajustando o tipo e a quantidade de ingredientes, com atenção às propriedades da maniva e ao equilíbrio de sabores.

Nas cozinhas paraenses, a maniçoba não é apenas alimento; é processo, ritual e encontro entre a vida e o sagrado. Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará.
Não existe maniçoba sem maniva. Essa é a regra única e irrevogável. Entretanto, a maneira de cozinhar, a ordem de adição dos ingredientes e o tempo de fervura são performances individuais, que imprimem identidade e memória ao prato. O cheiro que inunda Belém durante a quadra nazarena é resultado desse labor constante e ritualizado, que transforma a cozinha doméstica em espaço sagrado e performativo.
A maniçoba, assim, é mais que um prato. É, como diria Ingold (2015), testemunho de um vínculo entre seres humanos, natureza e fé. É alimento que carrega em si a história de suas preparadoras, o tempo da cocção e a devoção que transforma trabalho em oferenda, em celebração, em comunhão. No contexto do Círio, se apresenta como protagonista, convidando todos a degustar a Amazônia em sua forma mais concreta e sagrada.
Pato no tucupi: a alquimia efêmera da Amazônia
Se a maniçoba é o labor prolongado do fogo, o pato no tucupi é a celebração efêmera da alquimia da região. Aqui, a maniva dá lugar ao tucupi, o caldo dourado e ácido que nasce da prensagem da mandioca brava e da sua decantação cuidadosa. Diferentemente da maniçoba, cujo cozimento se estende por dias, o tucupi pede tempo breve: entre meia hora e uma hora, apenas o suficiente para eliminar o ácido cianídrico residual e transformar a mandioca em líquido sagrado.
As receitas da ave revelam sutileza e perícia. Dona Fátima Barreirinha, por exemplo, lava os patos com limão, refoga com alho, azeite e condimentos, e assa no forno. Depois, mergulha-os no tucupi e deixa-os repousar ali durante toda a noite de sábado. No domingo, cedo, retorna ao fogo para ferver o tucupi com os patos por cerca de 30 minutos, apenas o suficiente para unir sabores, texturas e aromas, antes de servir aos devotos da Santa.

O pato no tucupi é a celebração efêmera da alquimia da região. Foto: Miguel Picanço/Acervo Pessoal.
Dona Ana Rizete segue caminho semelhante, porém incorpora o tucupi previamente à chicória e alfavaca, deixando-os ferver por 30 minutos antes de introduzir os patos assados, finalizando a cocção em quinze minutos. Entre tucupi e jambu, cada detalhe é medido: o aroma, a intensidade do sabor, a cor viva e o leve formigamento do jambu criam uma experiência sensorial única. Ambos os modos de preparo reforçam a centralidade da mandioca: o tucupi é essência e sustento, metáfora líquida da devoção que corre pelas ruas de Belém durante o Círio.
O tucupi, mais do que ingrediente, funciona como catalisador de sentidos e relações. Em parceria com a maniçoba, forma o núcleo dos pratos centrais do almoço do Círio, tornando-se veículo de identidade e devoção. A presença desses alimentos transforma o espaço doméstico em templo efêmero, onde o ato de cozinhar e servir se equipara à oferenda: cada panela é altar, cada colher é um gesto ritualístico.
Maués (2016) aponta que o almoço do Círio não é apenas banquete, mas momento de comunhão: a imagem da Santa percorre as casas dos devotos, e aqueles que preparam o almoço participam de um rito de passagem, purificando-se e assumindo o sagrado. Nesse contexto, o tucupi não é apenas líquido: é alma líquida, essência que conecta matéria, corpo e fé. Assim, tanto a maniçoba quanto o pato no tucupi, com seus ingredientes e técnicas, se apresentam como dádivas, refletindo relações profundas entre pessoas, alimentos e espiritualidade.

O tucupi, mais do que ingrediente, funciona como catalisador de sentidos e relações. Foto: Miguel Picanço/Acervo Pessoal.
O pato, tradicionalmente escolhido para o almoço do Círio, tem, nos últimos anos, admitido substitutos – frango, peru, porco –, mas o tucupi permanece indispensável. Como observa Picanço (2018), isso confirma a singularidade da mandioca: sua presença é insubstituível, seja sólida na maniva, seja líquida no tucupi. E é justamente essa centralidade que transforma o almoço do Círio em um espaço onde a raiz transcende o mercado, tornando-se objeto sacralizado, rito de identidade e vínculo entre almas (Mauss, 2003; Yázigi, 2001).
O ciclo ritual da mandioca inicia ainda antes do almoço. Conforme observa Maués (2016), a imagem da Santa peregrina pelas casas, é recebida com orações, terços e singelas refeições. Cada visita purifica e prepara o espaço doméstico para o grande banquete, transformando o ato de cozinhar em ritual de comunhão. Nesse processo, as donas de casa, ao ferverem maniva e tucupi, participam de uma espécie de transubstanciação: alimento e sagrado se entrelaçam, e a mandioca assume identidade própria, carregada de significado e alma, nas palavras de Yázigi (2001), que define “alma” como a presença do melhor de um lugar, inseparável de seus corpos e práticas.

O pato, tradicionalmente escolhido para o almoço do Círio, tem, nos últimos anos, admitido substitutos – frango, peru, porco –, mas o tucupi permanece indispensável. Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará.
A vida social da mandioca: entre mercadoria e dádiva
A prática do preparo dos pratos evidencia que a mandioca possui itinerários específicos. Na forma de farinha, circula como mercadoria; em tucupi ou maniva, percorre rotas ritualizadas, afastando-se do comércio para se tornar dádiva. Ingold (2015) conceitua essas rotas como fluxos de coisas que “vazam” por superfícies, atravessando contextos e atribuindo significado às interações sociais. No Círio, a mandioca “vaza” da esfera mercantil, atravessa panelas e mesas, e materializa-se em alimento que é, ao mesmo tempo, corpo, espírito e memória.
O almoço do Círio, portanto, é palco de um potlatch amazônico. Como sugere Mauss (2003), a dádiva não é apenas material, mas também social e simbólica. A maniçoba e o pato no tucupi tornam-se mediadores de relações, reafirmando identidade, afetos e sociabilidades. Dona Fátima, ao preparar generosamente o almoço, garante que a mandioca cumpra seu papel de elo entre pessoas, lugares e rituais, permitindo que o alimento carregue em si uma “alma” compartilhada, como propõe Yázigi (2001).
Em síntese, no contexto do Círio de Nazaré, a mandioca exemplifica a complexa vida social das coisas: sua materialidade, circulação e transformação ritual evidenciam como um alimento pode transitar entre mercadoria e sagrado. A singularização da maniva e do tucupi revela que, mesmo em um mundo permeado por lógica de mercado, certos ciclos culturais e rituais preservam a autonomia e a sacralidade das coisas, conferindo-lhes um status de incomparável, insubstituível e sagrado, cuja presença define o caráter único do almoço do Círio e a experiência de comunidade que dele participa.

no contexto do Círio de Nazaré, a mandioca exemplifica a complexa vida social das coisas: sua materialidade, circulação e transformação ritual evidenciam como um alimento pode transitar entre mercadoria e sagrado. Foto: Eliane Isabela / Rede Wakywaa / Projeto “Tucupi Preto”.
O aroma da maniçoba e do pato no tucupi, que invade Belém durante a quadra nazarena, não é apenas fragrância: é memória, afeto e identidade que se materializam no ar, nas casas, nas ruas e nos encontros. Como observa Maués (2016), a preparação desses pratos é ritualizada, envolvendo longos períodos de cocção, movimentos delicados de temperos, adições graduais de ingredientes e gestos repetidos ano após ano. Cada panela é um microcosmo de relações, em que a mandioca, em suas formas de maniva e tucupi, atua como elemento central de experiência sensorial e afetiva.
As fontes revelam que o tempo de cocção não é apenas técnica, mas também temporalidade afetiva. A maniva que ferve por sete ou nove dias, os temperos que se misturam, o refogado de toucinho, charque ou bacon, tudo se combina para produzir um sabor que guarda história e presença de quem o prepara. Dona Fátima, ao relatar a experiência de cozinhar o almoço do Círio, enfatiza que o trabalho árduo é recompensado não apenas pelo sabor, mas pelo prazer de receber parentes, vizinhos e amigos, permitindo que a comida se transforme em veículo de sociabilidade, alegria e afetividade.
O Almoço do Círio: fé, sociabilidades e dádivas à mesa
Enquanto o tucupi borbulha e a maniçoba se transforma em substância negra e espessa, Belém pulsa em ritmo próprio: ruas, portos, rodoviárias e aeroportos se enchem de peregrinos, turistas e devotos, em um movimento contínuo que antecede o ápice do Círio. O almoço, embora posterior à procissão, é a culminância ritual da quadra nazarena. Nele, a mandioca se materializa em maniva e tucupi, compondo os pratos centrais – maniçoba e pato no tucupi –, e a mesa torna-se palco de comunhão, confraternização e sacralidade.
Segundo Maués (2016), o almoço do Círio integra práticas que se iniciam antes mesmo da procissão, quando a imagem da Santa visita às casas dos devotos. Em cada lar, orações, rezas e pequenos banquetes preparam a mesa e o espírito, purificando as donas de casa e estabelecendo vínculos de sacralidade. No domingo do Círio, ao retornar da procissão, famílias se reúnem, e o que se dá à mesa não é apenas alimento, mas dádiva carregada de sentido. A maniçoba e o pato no tucupi transcendem sua materialidade e tornam-se mediadores de laços afetivos, espirituais e identitários.

O almoço do Círio não é apenas banquete, mas momento de comunhão. Foto: Miguel Picanço/Acervo Pessoal.
A oferta generosa da comida cria vínculos, distribui prestígio e expressa valores coletivos e individuais. Como observa Yázigi (2001), a “alma” de um lugar reside em suas práticas, materialidades e pessoas. No almoço do Círio, essa alma se manifesta na forma de panelas fumegantes, aromas, cores e sabores que atravessam o espaço doméstico. As práticas repetidas de cozinhar, oferecer e partilhar reforçam a continuidade desses vínculos, conferindo às coisas – a maniçoba, o tucupi, o jambu e o pato – uma aura quase personificada, uma presença viva que transcende o tempo e o espaço.
As iguarias não apenas alimentam corpos, elas também deslocam a mandioca de sua condição cotidiana de alimento para uma esfera ritual e sagrada. Como indicam Appadurai (2008) e Kopytoff (2008), as coisas possuem trajetórias sociais que vão muito além de sua mera função ou valor econômico. No contexto do almoço do Círio, a mandioca deixa de ser mercadoria comum – farinha, por exemplo – para se tornar objeto de singularização. Maniva e tucupi transformam-se em alimentos sacralizados, cujas rotas e tempos de preparo são regulados por práticas sociais, rituais e afetivas.
O conceito de “vida social das coisas” de Appadurai (2008) ilumina essa transformação. A mandioca transita por diferentes contextos: ora mercantil, quando vendida nos mercados de Belém; ora singularizada, quando incorporada à maniçoba e ao tucupi; ora re-mercantilizada, quando transformada em produtos derivados que circulam em outros lugares do Brasil e do mundo. Esses movimentos não são aleatórios, decorrem de decisões coletivas e individuais que regulam, protegem e conferem significado às coisas. A cozinha paraense, ao ritualizar o preparo do almoço do Círio, torna a mandioca uma coisa desmercantilizada, elevada à esfera do sagrado, imbuída de sentido e história.
Kopytoff (2008) complementa ao mostrar que a capacidade de uma coisa ser vendida é apenas uma das condições de sua vida social; quando essa capacidade é retirada, a coisa alcança singularização, tornando-se incomum, única, incomparável. A maniçoba e o pato no tucupi ilustram essa lógica. Mesmo que seus ingredientes de origem animal possam ser substituídos, não é possível conceber o almoço do Círio sem maniva ou tucupi. A mandioca singulariza-se, diferenciando-se do alimento cotidiano, da mercadoria ordinária, assumindo status de objeto ritual, objeto social e objeto afetivo.

Em cada lar, orações, rezas e pequenos banquetes preparam a mesa e o espírito, purificando as donas de casa e estabelecendo vínculos de sacralidade. Foto: Miguel Picanço/Acervo Pessoal.
Assim, o almoço do Círio emerge como espaço de intensa sociabilidade mediada pelo alimento. Conversas, risos, partilhas e debates se entrelaçam aos sabores da maniçoba e do pato no tucupi, criando uma experiência coletiva que transcende o simples ato de comer. As doações para vizinhos, o preparo em grandes proporções e a atenção aos detalhes reafirmam a função ritual da comida, consolidando o banquete como ato de comunhão com o sagrado, expressão de identidade e perpetuação de memórias coletivas.
Em última instância, a mandioca – seja como maniva, seja como tucupi – é a protagonista silenciosa, que confere coesão a todo o ritual. Entre panelas, fogões e mesas fartas, ela cumpre seu papel: unir pessoas, materialidades e espiritualidades, transformando o almoço do Círio em um verdadeiro banquete sacrificial, uma celebração da vida, da fé e da memória amazônica.
Enquanto a maniçoba ferve lentamente e o tucupi colore o pato, Belém inteira se transforma em um espaço ritual. A cidade torna-se fluxo contínuo de devotos, turistas e peregrinos que percorrem rodoviárias, portos, aeroportos e estradas, dirigindo-se às romarias que antecipam o grande domingo do Círio. Cada trajeto – terrestre, fluvial ou motorizado – é carregado de símbolos, cores, sons e aromas que antecipam a experiência do banquete, criando um espaço urbano perfumado pelos cheiros da mandioca e das carnes que compõem os pratos centrais.
No coração do Círio de Nazaré, a mandioca se revela em múltiplas formas: maniva na maniçoba, tucupi no pato. Mas sua presença não se limita ao corpo físico dos pratos; ela transcende o simples alimento e passa a ocupar uma dimensão simbólica e ritual. Nesse contexto, torna-se perceptível o que Appadurai (2008) e Kopytoff (2008) definem como a vida social das coisas: a mandioca circula, ora como mercadoria, ora como coisa singularizada, e em determinados contextos, especialmente no almoço do Círio, é elevada ao sagrado.
O sabor da maniçoba e do pato no tucupi também carrega com ele a memória coletiva e individual. Ao serem degustados, os pratos evocam trajetórias, histórias familiares e comunitárias, reforçando laços entre devotos e moradores. Yázigi (2001) ajuda a compreender essa dimensão: a “alma” que impregna o alimento não é etérea, mas materializada nas práticas, nos gestos e nas relações sociais, conferindo às coisas um poder de conexão entre passado, presente e futuro. A mandioca, assim, transcende o corpo do prato; ela é memória e afeto incorporados.

Entre panelas, fogões e mesas fartas, a mandioca cumpre seu papel: unir pessoas, materialidades e espiritualidades, transformando o almoço do Círio em um verdadeiro banquete sacrificial, uma celebração da vida, da fé e da memória amazônica. Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará.
A experiência sensorial estende-se aos sentidos múltiplos: o verde vibrante do jambu, o vermelho intenso da carne, o aroma pungente do tucupi, o gosto profundo e levemente amargo da maniçoba. Cada ingrediente e cada gesto culinário são partes de um ritual que, segundo Maués (2016), é também rito de passagem para as donas de casa, que se purificam e se preparam para participar do almoço sagrado. Nesse processo, o alimento e o sagrado se entrelaçam, e a mandioca se manifesta como elo entre matéria, sentido e sociabilidade.
A mandioca emerge não apenas como ingrediente ou mercadoria, mas como mediadora sensorial e afetiva, conectando pessoas, lugares e histórias. Seu ciclo ritual no Círio ilustra como uma coisa pode adquirir múltiplas camadas de significado: do espaço doméstico à praça pública, do aroma que invade a cidade ao sabor que perpetua memórias e identidade. A mandioca, na maniçoba e no tucupi, é, portanto, alimento e experiência, memória e presença, elo sensorial e afetivo que sustenta a comunhão entre devotos, familiares e comunidade, revelando a força cultural e simbólica deste tubérculo amazônico.
Assim, a raiz, em suas múltiplas formas e trajetórias, evidencia como um alimento pode atravessar camadas de significado: da matéria-prima à coisa social, do mercado ao altar, do cotidiano à festa sacralizada. Sua vida social no contexto do Círio de Nazaré revela a força de sua presença na cultura amazônica: insubstituível, múltipla, mediadora de relações e portadora de sentidos que transcendem o paladar e se conectam à memória, à identidade e à espiritualidade paraense.
O encontro é mais do que um momento de alimentação. É um ritual que encarna a devoção, a memória afetiva e a sociabilidade paraense. Como observa Maués (2016), o evento se configura como um “banquete sacrificial” em que a maniçoba e o pato no tucupi assumem papel central, tornando-se veículos de ligação entre o sagrado e o cotidiano, o público e o privado, a formalidade e a intimidade. Cada panela, cada fogão aceso, cada ingrediente colocado na mistura é um gesto que atravessa camadas de significado, consolidando relações sociais e religiosas.

As donas de casa não apenas oferecem alimento; elas oferecem cuidado, afeto e devoção, conectando a todos em torno de uma experiência compartilhada. Foto: Miguel Picanço/Acervo Pessoal.
A preparação dos pratos exige tempo, esforço e perícia, sobretudo no caso da maniçoba, cujo cozimento exige tempo prolongado, dependendo da maniva utilizada. A rotina diária – acender o fogo pela manhã, acrescentar água, refogar temperos, misturar carnes e condimentos – transforma a cozinha em um espaço ritualizado, em que o ato de cozinhar é simultaneamente prático e simbólico. O tucupi, mais rápido de preparar, entra no circuito ao final, quando o pato e o jambu já estão assentes, completando a composição do prato. Esse contraste nos tempos de cocção evidencia uma coreografia sutil entre os ingredientes e a memória coletiva, um diálogo silencioso entre a mandioca e quem a manipula.
O almoço do Círio realiza-se como uma comunhão. Segundo Maués (2016), ao receberem os convidados, as donas de casa não apenas oferecem alimento; elas oferecem cuidado, afeto e devoção, conectando a todos em torno de uma experiência compartilhada. As práticas de comensalidade ali presentes ecoam as ideias de Mauss (2003) sobre o potlatch: a dádiva não é apenas o alimento, mas o gesto, a partilha, a circulação de valores e significados. Nesse sentido, a maniçoba e o pato no tucupi adquirem “alma”, tornando-se entidades portadoras de memória, tradição e vínculo social, como sugere Yázigi (2001) ao falar da materialidade imbuída de aura que transcende o tempo.
Além do sabor e da sacralidade, o Almoço do Círio se configura como espaço de resistência e singularização. A mandioca, isolada de lógicas mercantis, é elevada a status sagrado; sua circulação nesse contexto não se reduz à troca econômica, mas se expande para a esfera simbólica, ritual e afetiva. Cada prato, cada colher, cada gesto de servir e comer funciona como mediação entre indivíduos, comunidade e devoção. O Almoço do Círio, assim, não é apenas refeição; é celebração, é memória viva, é território de sentidos, onde a mandioca reafirma seu papel central na cultura alimentar amazônica, consolidando-se como essência da identidade paraense.
¹O potlatch é uma instituição social e ritual de troca observada entre povos indígenas da costa noroeste da América do Norte, compreendido como um sistema de prestações totais, isto é, uma forma de troca que envolve dimensões econômicas, sociais, políticas, jurídicas e religiosas ao mesmo tempo (Mauss, 2003).
Referências
Texto: Miguel Picanço
Arte: Isabela Leite
Revisão: Juliana Carvalho
Montagem da Página: Alice Palmeira
Direção: Marcos Colón

 Miguel Picanço
Miguel Picanço